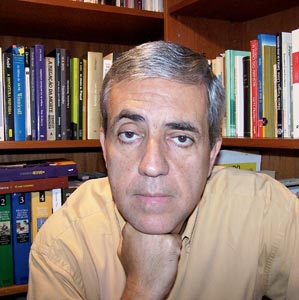
Um dos livros que mais me empolgaram este ano foi Ribamar, mistura inusitada de crítica literária com suposta biografia, dentro do emaranhado de gêneros que a literatura contemporânea exige. A felicidade da minha leitura não foi de causar espanto: trata-se do segundo romance de José Castello, um dos nossos melhores críticos e figura eternamente preocupada com o que a ficção pode nos causar. Um homem que investiga livros que completam pessoas, como próteses; que investiga personagens que nos perseguem como se fôssemos suspeitos de algum crime. Mas de qual crime mesmo? Isso está parecendo até uma história de Kafka... E a sombra do escritor tcheco se infiltrou na narração de Castello, nas relações familiares e literárias de Castello. É compreensível: no fundo, todos nós somos devedores de Kafka. Ribamar, vencedor do Jabuti na categoria melhor romance, foi o tema da minha conversa com esse carioca radicado na gelada Curitiba, uma cidade que parece ter sido formatada para abrigar escritores. O próprio autor fez questão de dar a fórmula para conviver bem com o jeito curitibano de ser: “Sigo uma fórmula criada por meu amigo Cristóvão Tezza: vivo em Curitiba como se não vivesse em Curitiba. Aliás: é assim que se vive em Curitiba! É uma cidade introvertida, fechada, desconfiada, uma cidade — mesmo com mais de dois milhões de habitantes — cheia de solitários.”
Na ficção, você parece que gosta de escrever sobre fantasmas. No seu primeiro livro, havia aquela presença do Paulo Leminski em todo canto. Agora, Ribamar tem essa assombração paterna. Por que os fantasmas?
É, talvez, um efeito de minha visão de mundo. Não creio que a ficção se guarde apenas nos romances, contos, narrativas. A ficção é um elemento essencial da existência humana. Ela se espalha pelo cotidiano, pelas relações amorosas, pela fé, pela ciência, e por todo o mundo dito “objetivo”. E toda ficção é turva, incerta, incompleta. Ao contrário do que em geral se pensa, a ficção não se define pela mentira. Não é qualquer coisa, não é o reino do vale tudo. A ficção se define, ao contrário, pela imprecisão - algo em que só se esbarra quando se busca a precisão impossível. Nunca temos tudo desse mundo: ele está sempre a nos escapar, está sempre cravado de buracos, de falhas, de vazios. Pense em Diadorim, em GH, em Alberto Caeiro, em Brás Cubas. Os grandes personagens de ficção são turvos, incompletos, esquivos, imperfeitos – parecem-se, muito, com fantasmas. Toda a nossa vida pessoal está, também, povoada de fantasmas: lembranças vagas, memórias imperfeitas, vultos inacessíveis.
Você mora em Curitiba, uma cidade gelada, que, se não tem fantasmas, tem um vampiro.Como um carioca lida com esse cenário?
Sigo uma fórmula criada por meu amigo Cristóvão Tezza: vivo em Curitiba como se não vivesse em Curitiba. Aliás: é assim que se vive em Curitiba! É uma cidade introvertida, fechada, desconfiada, uma cidade - mesmo com mais de 2 milhões de habitantes - cheia de solitários. Gosto muito de viver em Curitiba, aprendi a amar essa cidade. Mas o que mais amo em Curitiba? O silêncio, a distância, a solidão, a introspecção – ou seja, as ausências! Wilson Bueno dizia que Curitiba é uma “cidade de escritores”. Como ele, acredito que Curitiba tem um temperamento propício à literatura.
Você esteve várias vezes no Parnaíba, onde seu pai nasceu e cresceu. Que ajuda essas viagens podem ter lhe dado? Muitas vezes pensei que você fosse fazer um romance naturalista ou realista. Mas não foi nada disso. O livro driblou todas as expectativas e é ainda maior.
Na verdade, só estive em Parnaíba duas vezes. A primeira, no ano de 1955, com meus pais, quando eu tinha quatro anos de idade. Uma viagem de que, é claro, não guardo lembrança alguma. Enquanto trabalhava em Ribamar, decidi fazer uma nova (a rigor, a primeira) visita a Parnaíba. Passei uma semana, não precisei mais do que isso. Meu pai não nasceu em Parnaíba, mas em um sítio no centro do Piauí. Mas foi levado para lá por seu pai, meu avô Lívio, quando ainda usava fraldas. Meu pai nasceu em 1906. Visitei Parnaíba em 2008 – portanto, 102 anos depois! Meu pai viveu em Parnaíba só até a maturidade. Desceu para o Rio, em definitivo, em meados dos anos 1920. Portanto, eu sabia, todo o tempo, que não encontraria vestígio algum de sua passagem pela cidade. Mas então, por que fui a Parnaíba? Meus primos Alcenor e Carlos José, que vivem na cidade e nela me guiaram com todo o carinho, fizeram um esforço imenso para me mostrar alguns vestígios de meu pai. Creio que acreditaram, a maior parte do tempo, que eu escrevia uma biografia! Não fui em busca da verdade, mas da invenção.
Se olharmos de perto, o livro tem algo de música, a partir da canção do seu pai na infância. Deu muito trabalho essa experiência com a música?
Ribamar é um livro feito de acasos. Dizendo melhor: de uma escuta atenta do acaso. O romance me surgiu de um evento verdadeiro e inesperado. Um amigo carioca me telefona um dia para me perguntar se, no dia dos pais do ano de 1976, dei um exemplar da Carta ao pai, de Franz Kafka, de presente a meu pai, José Ribamar. Mas como ele podia saber disso?! Ele estava em um sebo do centro do Rio, reencontrou esse velho exemplar, leu o autógrafo assinado por um certo José e nele reconheceu minha letra. Era o livro que, cerca de 40 anos depois, me retornava! Meu amigo o comprou e me enviou pelo correio. Eu o folheei avidamente, em busca de alguma indicação de que meu pai, de fato, o lera. Nada encontrei. Mas achei a história espantosa demais para que ficasse perdida. Era uma história inverossímil, improvável – fantasmagórica! – , que guardava a estrutura de uma ficção. Resolvi escolher, então, um pequeno trecho do livro, só algumas linhas, e o sublinhei, como se meu pai o tivesse escolhido e sublinhado. A partir dessa hipótese – dessa fantasia de algumas palavras sublinhadas –, comecei a escrever um livro que, eu sabia desde o início, não seria uma biografia, ou um livro de memórias, mas uma ficção. Também a música, que batizei de Cala a boca, me chegou por acaso. Minha mãe está muito doente, tem Parkinson. Está com a memória muito fraca, fica longos tempos em silêncio. Um dia em que a visitei, ela começou a cantarolar uma canção. Perguntei, por falta absoluta de assunto, que música era aquela. Ela se espantou que eu não a conhecesse. Era a música que meu pai cantava para que eu dormisse, ela me disse. A música que meu avô, Lívio, cantava para que meu pai, Ribamar, dormisse. A música que meu bisavô, Manuel Thomas, cantava para que meu avô, Lívio, dormisse. Uma canção de ninar, que liga os homens da família! Pedi então a meu irmão, Marcos, que toca violão, que fizesse uma partitura da canção. Eu a deixei, durante semanas, pregada na parede de meu escritório, sem saber o que fazer com ela. Sabia que, de alguma forma, ela devia entrar em meu livro, Ribamar, mas não sabia como. Até que um dia me veio a resposta: a partitura deveria ser a estrutura do livro. Sua alma! A rede em que eu ligaria minhas anotações, até ali dispersas, incongruentes, soltas. Só quando fiz essa descoberta, cheguei de fato a Ribamar.Antes, eu escrevia às cegas, sem saber o que escrevia. Para ver, precisei não ver, mas ouvir uma canção de ninar.
Você escreveu e reescreveu várias vezes esse romance. Após esse processo tão trabalhoso, você retornaria ao romance ou devemos esperar um livro de poemas?
Nunca pensei em escrever poesia. Mas muitas pessoas já comentaram que Ribamar tem uma escrita poética. Uma das explicações talvez esteja no rigoroso processo de cortes a que submeti meu texto. Quando decidi que a partitura seria a estrutura – a alma – de meu livro, passei a nela encaixar meus escritos. A partitura tem, ao todo, 98 notas musicais – logo, o livro deveria ter 98 capítulos, concluí. Cada capítulo corresponde a uma nota musical. A cada nota, corresponde um tema: Parnaíba, Kafka, sonhos, aves etc. Quem conhece um mínimo de música sabe que as notas musicais, quando dispostas em uma partitura, ganham intensidades. Existem as mínimas, as semínimas (que, como diz o nome, correspondem à metade das mínimas), as fusas (metade das semínimas) etc. Na partitura da Cala a boca só existem mínimas, semínimas e fusas. Decidi então que, para reproduzir essas intensidades, eu precisaria estabelecer uma regra quanto ao tamanho dos capítulos. A cada mínima, decidi, corresponderia um capítulo de seis mil caracteres. A cada semínima, de três mil caracteres. E a cada fusa, de 1.500 caracteres. O problema é que eu tinha capítulos longuíssimos, muitos oscilavam entre os 20 e os 30 mil caracteres. Logo, seguindo as sábias lições de João Cabral – sim, um poeta, você está certo – dediquei-me a cortar e cortar e cortar cada um dos capítulos, até chegar aos tamanhos que lhes correspondiam. Passei três anos escrevendo, ou pelo menos rascunhando. E cerca de um ano praticamente só cortando. Trabalhei, nesse período, como um escultor que luta para arrancar da pedra bruta, a facadas, sua figura.
Com este livro, você se sente um devedor de Kafka, em certo sentido?
Minha dívida com Franz Kafka vem de muito antes. Aos 12 ou 13 anos li pela primeira vez, completamente atordoado, A metamorfose. Reli o livro várias vezes e quanto mais o lia, menos o entendia. A leitura de Kafka criou um rombo em minha imaginação, fratura essa que tentei preencher com novas e novas leituras. Logo: ela me transformou em um leitor! Sou um leitor apaixonado de Kafka, não só de suas geniais narrativas curtas, mas em especial de O processo. E é claro, quando li a Carta ao pai, identifiquei-me imediatamente. Como em Franz e seu pai Hermann, minha relação com meu pai também foi muito difícil. Lutamos, todo o tempo, para nos aproximar. Mas havia um deserto, um abismo. Era exatamente o que eu sentia – e tenho certeza de que ele sentia algo parecido também.
Ribamar também conta com crítica literária. Crítica literária, sob certo sentido, é também ficção?
Não tenho dúvida de que é ficção também! Com a chegada da literatura à universidade, em meados do século 20, surgiu a ideia de que a literatura é assunto para especialistas. E, o mais grave, de que esses especialistas praticam algo que se assemelha a uma “ciência da literatura”. Não existe nada mais fatal para a literatura, eu penso, do que o distanciamento que a ciência lhe impõe. Literatura não é ciência, não é filosofia, não é religião. É uma forma de saber tão potente quanto elas três, mas absolutamente independente.