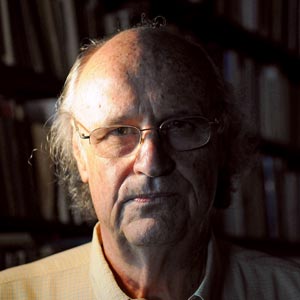
Francisco Alvim é nome obrigatório quando se pensa na chamada “poesia marginal”, geração de escritores posterior à eclosão da vanguarda concretista, e que se apresentava como um caminho alternativo à lógica experimentalista. A proposta era experimentar a vida, a vida imediata, com todas as suas mazelas e desacertos. E mesmo que hoje tenhamos uma visão crítica que, com distância e rigor, pode avaliar melhor o que dessa geração ficou como contribuição, ela marcou a história da literatura e poesia brasileira e transformou-se em referência, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas ou Pernambuco. Conversar com o autor de O sol dos cegos (1968), Passatempo (1974) e Elefante (2000), mostrou que os poetas buscam se reinventar a cada novo livro, mesmo que partindo das obsessões de sempre, como ocorre também em seu novo livro – O metro nenhum (2011), lançado pela Companhia das Letras. Afirmando também que a obra individual é sempre mais interessante que os grupos, gerações e outros balaios. Ouvir a voz particular é sempre uma experiência mais significativa que ouvir o burburinho dos aglomerados. Nesta entrevista ao Pernambuco, o autor comentou a sua nova obra, falou das inspirações para o seu trabalho e listou ainda as suas preferências literárias. “Minha leitura é bastante anárquica. Com os anos, então... Começo um livro de poemas, passo pelo meio de outro”, apontou durante a conversa, concedida por e-mail.
Marcos Siscar, que é professor e poeta, em seu livro Poesia e crise, recentemente lançado, afirma que a noção de crise transformou-se num lugar-comum da modernidade, um topos, para usar a terminologia acadêmica. Você acredita que sua poesia também expresse essa crise, simultaneamente social e literária?
É possível, na medida em que meus poemas efetivamente se expõem aos desconcertos do mundo e buscam a forma que dê expressão a esse embate. Isso se dá no plano da história, em que a poesia se insere como qualquer outra atividade humana; e como os tempos que correm são inegavelmente de crise... Não considero contudo os meus poemas motivados por ou vinculados a uma ideia de crise. Talvez porque acredite que a poesia procure guardar uma dimensão de liberdade em relação à própria história: ao mesmo tempo que está dentro dela, aspira estar fora, gerando um espaço livre, de possibilidades próprias e ilimitadas.
Em O metro nenhum, assim como em seus outros livros, pode-se identificar duas tendências: a primeira, mais assimilável — digamos assim — ao discurso tradicional poético da modernidade, poemas em que o jogo verbal convive com a observação crítica do cotidiano; e uma segunda, em que o discurso poético simula um recorte da fala de outros que acaba conferindo a essa fala deslocada outros significados. Como você vê a convivência desses dois registros?
Não estou seguro de que sejam apenas dois os registros; talvez sejam mais. De qualquer modo são sim registros distintos, procedimentos de fatura do poema que claramente se distinguem uns dos outros. Não creio que estabeleçam um “convívio”. Creio mesmo que por se manterem à parte uns dos outros meus livros apresentam a estrutura que têm.
Em relação ainda a essa característica de sua poética, pode-se falar talvez num processo consciente de “de-sublimação” da poesia, trazendo ela para um mundo mais chão. Isso invalida a noção de desenvolvimento ou maturidade poética, apontando mais para o que podemos chamar de obsessões poéticas que permanecem ali, sempre presentes no discurso do poeta, como uma espécie de fratura recorrente?
Há poetas sistêmicos. Criam universos fechados, em que a potência verbal dá conta da desordem do mundo. Há poetas que habitam uma casa só de portas e janelas abertas, sem paredes, e que se expõem à desordem do mundo e também à da linguagem. Há mesmo os que misturam as duas colunas: a da ordem e a da desordem. Quanto à noção de amadurecimento ou de desenvolvimento, francamente não sei se se aplica em poesia. Os poetas, a meu ver, não amadurecem ou se desenvolvem. Na realidade, os poetas são a consequência de uma metonímia: o que produzem é o que lhes empresta identidade: o poema; este, sim, é ou não é, independentemente de critérios de amadurecimento ou desenvolvimento. Ou existe ou não existe. Há uma observação muito corrente mas nem por isso pouco verdadeira, que sempre se faz pelas costas do interessado: ele pensa que é poeta ... Quando isso ocorre, e dependendo da competência de quem o faz, é porque o candidato foi reprovado na prova do poema. Há ainda aquelas circunstâncias em que o poeta, consagrado ou não, deixa de sê-lo porque cometeu um não poema. O que nos conduz à percepção de Bandeira de que se deve acreditar mais no poema do que no poeta.
Em O metro nenhum, encontramos uma veia lírica mais tradicional também, como se pode verificar no poema Amor, texto de grande delicadeza e que contrasta com os recortes mais secos do “discurso do mundo”... “Tanta solidão na entrega / tanto abandono // trêmula, trêmula / Aragem / perante meu olhar / duro // a palavra mais impura / não dirá tudo / Doía na treva / aquele ser puro / a meu lado, impuro // Eu, ou o que me chame / estava ali? // A rosa alegre dos / ventos // Que mar é este? / Que céu? // Ao lado / daquele ser disperso / em tudo / Seiva luminosa / tão acima // Nenhuma lembrança / fere ou diz / aquilo que foi.” É o outro Alvim? O reverso do veneno?
Não se trata de veneno, mas de sentimento. A partir dessa perspectiva, não há reverso: é tudo uma coisa só. Minha poesia trabalha com os sentimentos, com o mar de sargaços dos sentimentos; meus e dos que eu imagino, dos outros. Contraditórios, conflitivos, confusos, evasivos, o fato é que sem eles não há vida, o mundo deixa de existir. O mal absoluto, a morte em vida, é a ausência de sentimento. Quando existem, não importa se negativos, há esperança, pois sinalizam um organismo vivo.
O que você vê de interessante no cenário da poesia brasileira hoje? Você acredita que se está lendo mais poesia no Brasil e isso tem se refletido no espaço que a literatura em geral tem conquistado?
Há muita coisa de interesse. Senão, veja; entre os que partiram: Cacaso, Sebastião Uchoa Leite, Carlos Pena Filho, José Laurênio de Melo, José Godoy Garcia, Bruno Tolentino, Fernando Mendes Viana, Ana Cristina César, Orides Fontela, Maria Ângela Alvim, Marly de Oliveira, Leminski, Hilda Hilst, Lélia Coelho Frota, Piva, João Carlos Pádua, Mario Faustino, Torquato Neto, Haroldo de Campos. Entre os que ainda estão por aqui: Geraldo Carneiro, Eudoro Augusto, Luiz Olavo Fontes, Charles, Chacal, Ronaldo Brito, Vera Pedrosa, João Moura, Affonso Henriques Neto, Paulo Henriques Brito, Armando Freitas Filho, Otávio Mora, Affonso Romano de Sant’Anna, Maria Lúcia Alvim, Adélia Prado, Antonio Cícero, José Almino, José Carlos Capinam, Augusto de Campos, Décio Pignatari, Francisco Marcelo Cabral, Zulmira Ribeiro Tavares, Davino Sena, Luiz Meyer, Antonio Fantinato, Astrid Cabral, Lu Menezes, Carlito Azevedo, Sebastião Nunes, Maria Lúcia Verdi, Guilherme Mansur, Ricardo Aleixo, Donizete Galvão, Alberto Martins, Régis Bonvicino, Ulisses Tavares, Fabio Weintraub, Ângela Melim, Elizabete Veiga, Glauco Matoso, Nelson Archer, Frederico Barbosa, Arnaldo Antunes, Fabrício Corsaletti, Sérgio Alcides, Ronaldo Polito, Heitor Ferraz, Claudia Roquete Pinto, Augusto Massi, Fernando Paixão, Nicolas Behr, Paula Glenadel, Leonardo Froes, Sergio Bath, Marília Garcia, Ricardo Domeneck, Ângela de Campos, Alice Sant’Anna, Priscila Figueiredo, Ferreira Gullar, Nauro Machado, Manoel de Barros, Zuca Sardan. A lista não é exaustiva. O conjunto mencionado, contudo, já impressiona - pelo menos a mim - pela variedade e consistência dos caminhos que tomou nossa poesia. Lê-semais poesia? Há poetas, dentre os mencionados, como Gullar, Haroldo de Campos, Manoel de Barros, Adélia Prado, Leminski, Ana Cristina que certamente já alcançaram tiragens expressivas. Aparentemente, editam-se mais livros de poemas do que há poucos anos atrás. Cresce o número de iniciativas as mais diversas como encontros, debates e leitura de poesia; grupos de poetas se organizam para atuar coletivamente; há muita coisa acontecendo na internet. Surge com grande energia uma “movida” poética na periferia e favelas das grandes cidades brasileiras. Instituições públicas e privadas se interessam pelo gênero. Revistas de poesia já existem numerosas no país, algumas contando a favor muitos anos de percurso, fato inédito em nossa história literária. Há inegavelmente mais recursos financeiros públicos e privados disponíveis para a promoção de iniciativas envolvendo a poesia. Na Universidade, observa-se certo reboliço em torno do assunto. Muitos poetas acima citados já estão sendo nela estudados. Ali também se multiplica a realização de cursos, seminários e encontros sobre poesia brasileira contemporânea. Das gerações mais recentes começa, inclusive, a surgir uma nova leva de críticos. É curioso como tal quadro, provavelmente indicativo de mais e melhores leitores de poesia, coexiste com a sensação de irrelevância que o gênero pode despertar na atualidade. Mas isso é um outro assunto que pediria um novo conjunto de perguntas.
Você sempre foi associado à poesia marginal, embora seus livros apontassem para elementos que ultrapassavam uma certa noção de poesia marginal. Como você vê essa relação?
Tenho muita gratidão e afeto por aqueles poetas. O convívio deles garantiu a cota de camaradagem e felicidade sem a qual a travessia daqueles anos de opressão teria sido muito mais penosa. Com eles afinei ademais meus instrumentos e um certo modo de encarar as relações entre vida e poesia.
Que poesia o Francisco Alvim lê hoje, seja na literatura brasileira, seja na estrangeira?
Minha leitura é bastante anárquica. Com os anos, então... Começo um livro de poemas, passo pelo meio de outro, e termino num terceiro. O livro pode ser de um poeta brasileiro ou não; um poeta de agora ou de sempre. Releio muito.
Fábio Andrade é escritor e responsável pela editora Moinhos de Vento