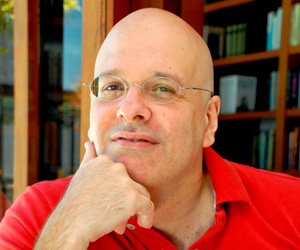
Difícil resumir em poucas linhas o novo romance do carioca Alberto Mussa, O senhor do lado esquerdo — desde já candidato a livro do ano. Também é bastante complicado entrevistá-lo a respeito da obra via e-mail. O ideal seria uma conversa presencial, cheia de parênteses generosos, pontes e bifurcações, assunto puxando assunto. Não se dá conta de todos os aspectos do trabalho de Mussa em meia dúzia de perguntas temáticas. Mitologia, romance policial, associações entre morte e sexo, as origens do Rio de Janeiro, estereótipos raciais. São tópicos obrigatórios, entre tantos outros. E é sobre eles que Mussa discorre na entrevista abaixo.
Em tempo: a sinopse necessária. O secretário da Presidência da República é morto na Casa das Trocas, um prostíbulo sofisticado para os padrões do Rio de 1913, dirigido pelo médico polonês Miroslav Zmuda, um estudioso da sexualidade. Ao investigar o crime, o perito Sebastião Baeta vê seu ceticismo ser confrontado pelo sobrenatural e acaba se metendo com o suspeito Aniceto — um malandro sedutor de mulheres —, numa absurda aposta de fundo erótico.
Você é conhecido por criar sua ficção a partir de elementos da mitologia — em sua opinião, o gênero supremo da literatura. Em O senhor do lado esquerdo isso se repete, e a história se apresenta ao leitor por meio de uma narrativa policial clássica. Lembrando que a literatura policial é considerada por muitos um gênero literário menor, como foi misturar essas duas grandes influências? Que propósito você tinha ao conceber uma novela tão original?
Dizer que o gênero policial é inferior, apenas porque atinge um público mais amplo ou por ser regido por alguns princípios rígidos, é uma tolice. Será que Crime e castigo, romance policial de Dostoiévski, é menor? O nome da rosa é um romance menor? Borges, Bioy Casares, Rubem Fonseca, Sciascia ou Dürrenmatt são menores? Acho desnecessário responder. Há um certo preconceito que me parece decorrente de certas ideias estéticas do início do século 20, de se considerar que só a absoluta liberdade de expressão conduz à grande arte. Para começar, a própria linguagem não é livre. Mesmo as metáforas mais sofisticadas são regidas por princípios previsíveis e predeterminados — ou não seriam decodificáveis. Por outro lado, a ideia de que a arte, digna desse nome, tem que “romper” com algum padrão é, em si mesma, uma restrição à liberdade criativa. Quanto ao emprego da técnica policial com fundo mitológico, já tinha feito isso antes, em O trono da rainha Jinga e em algumas das histórias que compõem O movimento pendular. Os policiais, para mim, têm a vantagem de tornar a narrativa mais intelectual e menos subjetiva (um aspecto que, em excesso, me incomoda). Não sou um teórico da literatura, mas acredito intuitivamente que a ficção se decompõe em quatro níveis: o primeiro é a ideia, o tema, o assunto, a mensagem, a essência do que se vai dizer; o segundo é a história abstrata, que vai conduzir e incorporar essa ideia; o terceiro é a história estruturada, na forma como ela se apresenta, na sequência precisa das proposições, respeitadas as convenções do gênero escolhido; e o quarto é o estilo, a linguagem propriamente dita, com suas peculiaridades vocabular e sintática, que às vezes tornam um autor inconfundível. O emprego da mitologia entra, na minha ficção, no primeiro plano, o plano do tema, do problema que eu quero discutir. A técnica policial diz respeito ao terceiro plano: é a maneira de contar. Não é, talvez, tão original assim.
Sendo essa mistura às vezes borgeana de literatura e história, realidade e ficção, invenção e mito, um aspecto recorrente dentro da sua obra, você acha que a arte em geral — e a literatura, mais especificamente — possuiria hoje uma função próxima àquela que, em outros tempos, teria sido a dos mitos: criar ou recriar valores e, de alguma forma, discuti-los?
Não acho que toda a literatura faça isso. O mito é, no sentido estrito, uma forma de narrar que apresenta, de maneira metafórica, alguma teoria, seja sobre a constituição do universo, seja sobre a natureza humana. Busco a mitologia porque é esse tipo de matéria que me interessa. Mas não vejo a ficção contemporânea, no Brasil e no mundo, em suas grandes linhagens, seguirem esse caminho.
Miguel Sanches Neto, numa crítica positiva e recente ao seu livro no jornal curitibano Gazeta do Povo, disse que, com O senhor do lado esquerdo, “Alberto Mussa alcança a estatura de um Mário de Andrade de Macunaíma”. Você — que tem restrições conhecidas à obra de Mário — encontra pontos em comum entre o seu trabalho e o dele?
Primeiro, uma breve declaração: considero Mário de Andrade um dos maiores contistas brasileiros; alguns dos poemas (como A Serra do Rola-Moça e Dois poemas acreanos) estão entre os mais bonitos que li na minha vida; acho Amar, verbo intransitivo um romance muito bom. Agora, não gosto do Macunaíma. Não tenho culpa se é justamente o livro mais famoso dele. É burlesco demais, é farsesco demais. Não alcança na realização a profundidade prometida no título. Apesar de original como concepção, reproduz de modo caricato os estereótipos raciais mais recorrentes. Inverte, na prática, a teoria antropofágica oswaldiana. É, enfim, um livro que me desagrada, apenas. Mas isso, é claro, não impede a semelhança entre processos criativos. E há ainda muito a explorar, nesse sentido. Pena que o que há de melhor no Macunaíma — a recriação literária de um mito indígena — tenha sido desprezado tão cedo pelos outros modernistas.
Em meio à trama de O senhor do lado esquerdo, você enumera uma série de crimes eróticos que teriam fundado o Rio de Janeiro como cidade. O que se depreende disso? Ou melhor: o que esse tipo de “fundação” pode dizer sobre o Rio de hoje? E como essa origem se deixa perceber no dia-a-dia da cidade atual?
Quando imaginei o romance, ainda no plano abstrato, sabia já de duas coisas: queria explorar os mitos do Rio de Janeiro; e queria escrever uma narrativa policial. Parti, então (e não sei exatamente quando isso me ocorreu), de uma ideia meramente literária: a de que as cidades têm uma personalidade própria (para falar dos mitos); e a de que essa personalidade se manifesta na história dos seus crimes (para fazer um policial). E o mito carioca é o de uma cidade feminina, sensual, irreverente e transgressora. Por isso, os crimes da cidade têm um fundamento erótico, sexual. Não me interessa se isso é uma verdade histórica ou sociológica. Isso é a verdade do romance. Não sei se outros escritores têm pretensão mais larga, mas não quero que ninguém leia um livro meu para compreender o mundo contemporâneo ou qualquer outra espécie de realidade. Literatura, para mim, ainda que sofisticada, é apenas diversão. E isso não é pouco.
Aproveitando a questão sobre Mário de Andrade. É comum que os literatos brasileiros se perguntem sobre os baixos índices de leitura Brasil afora e, por vários motivos, se queixem da pequena penetração dos livros e da literatura nas comunidades mais populares do país. Por outro lado, os literatos, em geral, não conhecem nossa cultura popular. De que forma você, que frequenta os dois ambientes, enxerga esse problema? Há preconceito de um lado e/ou ressentimento de outro?
A literatura não é, acho que não pode ser, popular. Qualquer leigo pode admirar um quadro ou uma escultura sem necessariamente compreender como foram produzidos; qualquer pessoa pode se comover com uma peça musical erudita sem precisar entender seu processo de composição. Mas literatura é diferente. Exige preparo, exige formação, exige uma capacitação prévia, sem a qual é impossível fazer um leitor “gostar” instintivamente de uma obra de alto nível. O problema, portanto, é a escola. É lá que se formam os leitores. Se houvesse escola pública de qualidade alguns dos nossos bons livros chegariam lá, embora nunca como obras “populares”. É só pensar nos bons colégios particulares, que também não conseguem formar tantos bons leitores assim, hoje em dia. Se pensarmos proporcionalmente, baixos índices de leitura ocorrem também entre os mais ricos. Sobre o outro aspecto da questão — o desinteresse dos escritores pela cultura popular, que se aproxima mais das tradições indígenas e africanas — creio ser um fenômeno recente, dos anos 90 pra cá. É mais uma tendência da literatura contemporânea, porque o conjunto da literatura brasileira não ratifica essa imagem — e um bom exemplo é o próprio Mário de Andrade. Foi publicada há pouco tempo uma polêmica pesquisa que revelava serem os protagonistas da ficção brasileira muito parecidos com os seus criadores. Para mim, isso se explica por duas razões encadeadas: com o crescente desinteresse pela poesia, com o desprestígio do verso, a prosa ocupou esse espaço e se tornou predominantemente lírica. Logo, passou a ficar muito interessada no Eu, refletindo o seu próprio “Mal do Século”; e muito psicanalítica, porque vivemos a era da psicanálise. Isso não é nem bom, nem mau, necessariamente. É um traço do presente, que pode mudar a qualquer momento. E, nesse sentido, percebo, ou acho que percebo, um certo retorno às narrativas mais clássicas, aos romances de enredo, mais próximos do grande painel histórico e social que do drama individual e miniaturista, que se passa nos apartamentos das grandes cidades. Pode ser essa a nova tendência.
Enquanto lia seu livro, encontrei um paralelo inesperado entre ele e Breve romance de sonho, do vienense Arthur Schnitzler. O médico polonês Miroslav Zmuda, dono da Casa das Trocas — uma casa de suingue onde se promoviam orgias mascaradas — e pesquisador do comportamento sexual, estudou em Viena e foi contemporâneo de Freud, assim como Schnitzler. E, assim como Breve romance, o seu livro associa o sexo à morte, trata do poder das fantasias eróticas e aborda a luta pela supremacia sexual. Para você, a questão sexual é o grande tema humano, comparável somente com o fim da vida?
Creio que há um pequeno grupo de grandes temas humanos — a Morte, a Criação, o Conhecimento, o Mal, a Sobrenatureza, a Traição, a Vingança, os Países Exóticos, a Caça ao tesouro e uns poucos mais. Entre esses, a Sexualidade, o Amor, a Conquista do ente amado, o Adultério, as Tragédias passionais são assuntos obsessivos, existentes em todo o mundo desde a pré-história, matéria de um sem-número de mitos e textos literários. As sociedades humanas, todas elas, têm como fundamento o controle da sexualidade. A própria noção de civilização, tão cara à maioria dos pensadores modernos, surgiu como forma impessoal de disciplinar a manifestação individual da sexualidade, particularmente a feminina. Essa ideia, para mim, é a mais fascinante: a de que há no sexo algo que pode destruir, perverter o ordenamento do mundo. Daí a associação, simbólica ao menos, entre sexo e morte. O tema erótico, para mim, é o que oferece mais possibilidades, é o que ainda abriga as zonas mais sombrias. Talvez porque seja essa uma experiência essencialmente individual; talvez por ser uma experiência que só se torna plena com o concurso de um Outro. Não sei se há coisa que desperte mais curiosidade do que saber como o Outro é, sexualmente; como o Outro faz, na intimidade. É um imenso espaço para a ficção.
Você leu muito Lima Barreto enquanto escrevia O senhor do lado esquerdo. O que está lendo em sua imersão para escrever A primeira história do mundo? Já pode adiantar algo sobre esse livro?
A primeira história do mundo se inspira principalmente na transposição para as Américas do mito das Amazonas e vai se situar no século 16. Será um romance dos navegantes, piratas e degredados que nessa época atravessaram os mares e se aventuraram pelos mistérios interiores do Brasil. Nesse sentido, será também um romance das bandeiras. Tenho lido e estudado os primeiros cronistas da terra, alguma coisa sobre a cartografia antiga do Brasil, ensaios sobre a história das navegações e sobre o século 16 em geral; e mergulhado particularmente nas fontes primárias, cartas e relações desses navegantes, aventureiros e missionários: Hans Staden, Cabeza de Vaca, Vespúcio, Caminha, Léry, Anchieta, Thevet, Montoya, Schmidel, Pero Lopes, O livro da nau Bretoa, Gonneville, A nova gazeta do Brasil — toda essa literatura que é muito esquecida, mas que é fantástica, fascinante, e devia ser ensinada nas escolas. Fiquei especialmente impressionado com a constatação de que muita gente desertava das naus para se meter num mundo completamente desconhecido, no meio de um gentio perigoso e inconstante, com o firme propósito de ficar. Essa é a personagem que eu procuro.
Você é sempre consultado a respeito do racismo na literatura brasileira. Recentemente, a polêmica sobre a obra de Monteiro Lobato ganhou uma amplitude imensa, mas parece longe de ser resolvida. Numa entrevista à Veja, você disse que ninguém parecia discutir o problema de maneira objetiva. Tudo seria muito passional e subjetivo. Para entrar nesse jogo, portanto, faço uma pergunta bastante subjetiva, que talvez não nos leve a lugar algum: o que aconteceria se descobrissem cartas de Walt Disney louvando a Ku Klux Klan?
Acho a provocação até bastante objetiva e fácil de responder: não aconteceria nada, porque Walt Disney (salvo algo de que não me lembre) não criou personagens negras caracterizadas como imbecis, feias ou malcheirosas. Esse é um dos pontos: não interessa (ao menos para mim) o julgamento moral de Monteiro Lobato, se ele escreveu ou não escreveu cartas racistas, se era ou não adepto das teorias eugenistas. Isso é que é dar um viés subjetivo à discussão. Não importa também se ele foi ou não importante para a literatura brasileira, se é ou não um gênio, se as pessoas que o leem se tornam racistas ou não. O primeiro ponto que me parece fundamental, objetivo, é discutir serenamente se os professores brasileiros estão hoje capacitados para, em sala de aula, numa turma de crianças, administrarem o conteúdo ofensivo, constrangedor e racista dos livros que Monteiro Lobato escreveu para o público infantil (porque a questão não se aplica à obra adulta). Pessoalmente, acho que não. O segundo ponto é o problema da censura. Houve recentemente uma polêmica a respeito de um filme europeu que supostamente incentiva a pedofilia (A serbian film, de Srdjan Spasojevic). Um dos argumentos contra a censura do filme era o de que (destaco) — o Estado não pode decidir aquilo que o cidadão deve ou não ver. Curiosamente, no caso dos livros de Monteiro Lobato que seriam distribuídos nas escolas públicas, esse argumento não vale. Porque (digo eu) se o Estado não pode decidir o que nós vamos ou não vamos ver, não pode, do mesmo modo, impor o que nós, e nossos filhos, vamos ler. Ainda mais quando um segmento significativo da sociedade se sente ofendida ou constrangida com a leitura de trechos dessas obras (e muita gente que discute nunca se interessou pela opinião dos próprios negros). Há um preconceito muito grande contra a censura, nos meios intelectuais, que deriva de um equívoco: a ideia de que essa é uma instituição exclusiva do regime militar e incompatível com a democracia. Pergunto eu: sem censura, como impedir a propagação em livros ou em filmes de ideais nazistas, para dar o exemplo que me parece mais contundente? Temos o dever de censurar manifestações estéticas ou intelectuais com esse conteúdo, ou tudo deve ser permitido, em nome da liberdade de expressão? Creio que nem é preciso responder. Acho que há também um outro excesso nisso tudo: a sacralização do autor e, principalmente, do texto literário. No caso da obra infantil de Lobato, cuja concepção é de fato genial, me soa como uma picuinha tola, um preciosismo de quem não se importa com o sentimento dos outros, essa resistência a alterar ou suprimir pequenos trechos de evidente manifestação racista, para manter o que há de bom nos livros, evitando apenas conflitos e constrangimentos para parte significativa das crianças.