
Foto: Marlos Bakker/ Divulgação
Repensar a economia dos cuidados e uma ideologia maternalista vigente, que supervaloriza e associa às mulheres uma função de cuidadora cada vez mais urge. Mas de que forma as teorias psicanalíticas podem contribuir nos tensionamentos de valores cristalizados em nossa sociedade? Para pensar sobre a maternidade, enquanto tema complexo e heterogêneo, já que abarca distintas realidades, vivências e demandas em nossa sociedade, é preciso considerar diversas intersecções. Reflexões como essa estão em Manifesto antimaternalista (Zahar, 2023), da psicanalista, fundadora e diretora do Instituto Gerar de Psicanálise, Vera Iaconelli.
Em entrevista à revista Pernambuco, a autora, que apresenta uma costura teórica consistente trançada à sua história pessoal e profissional, com três décadas de experiência clínica, relata sobre o processo de escrita de sua mais recente obra, comenta o colapso do modelo atual de maternidade e como isso vulnerabiliza vidas, a relação entre capitalismo e controle dos corpos, e um pouco de como as lutas por direitos impactam a sociedade.
Em relação ao título, Manifesto antimaternalista, queria que você comentasse a diferença entre "maternalismo" e "maternidade", porque tenho visto pessoas confundindo. Na verdade, trata-se de uma defesa da maternidade, de uma maternidade possível.
Exatamente. Esse título foi bem proposital, queria muito que tivesse um certo impacto. Maternalismo é um termo que vem da Sociologia e da História, e busca entender um certo período histórico muito específico no qual a sociedade – o Estado e a sociedade civil – saiu em busca de ajudar as mulheres que viviam um dos períodos mais nefastos da sobrevivência. As mulheres nas fábricas, vivendo em cortiços, mulheres nas lavouras. É um período importante na passagem do século XIX para o XX, no qual a conciliação entre o trabalho e a maternidade se tornou impossível. O maternalismo foi essa busca por ajudar. Aí, você fala: “Que paradoxo, né? Como a gente vai criticar, fazer um manifesto contra essa ajuda?” Porque justamente ela parte de um pressuposto de que cabe à sociedade ajudar a mulher e não a sociedade se responsabilizar igualmente pelas próximas gerações. Desde o começo, um certo grupo do feminismo já questionava essa mentalidade de “ajudar a mulher”, porque o grande problema hoje é justamente a hiper responsabilização da mulher sobre tudo o que se passa com a maternidade.
Mesmo quando ela consegue dividir a tarefa doméstica com o marido, por exemplo, ou numa guarda compartilhada, numa relação bem equânime, a responsabilização, a carga mental está na cabeça dela porque a gente entende que isso é “um assunto da mulher”. Então, ir contra o maternalismo é ir a favor da possibilidade de uma maternidade sustentável. Quando a gente pensou no Manifesto antimaternalista, que discuti com o editor, foi justamente porque entendi que qualquer título que falasse de maternidade parecia que estava de novo naquele lugar-comum, ou de falar superbem ou de falar supermal. E não é nada disso. Estou falando das condições da maternidade na atualidade.
Por que essa maternidade, como ela socialmente vem sendo construída e cristalizada, vamos dizer assim, está entrando ou já está em colapso?
Entendo que ela já está em colapso. A gente tem vários indícios disso, né? É bom lembrar que a maternidade não é uma coisa que vem pronta, sempre a humanidade cuidou da prole, sempre cuidou da descendência das suas gerações, mas, ao longo da história, da cultura e dos lugares, você vai ter maneiras muito diferentes de encarar a maternidade. Os estudos antropológicos, sociológicos estão aí para mostrar uma miríade de possibilidades no cuidado com as próximas gerações. A maternidade que estou criticando, que está colapsando é justamente essa na qual você pega uma sociedade que começa com uma pretensão de divisão sexual do trabalho, no qual a mulher cuida da família e da casa, e o marido cuida de prover financeiramente; essa divisão funcionaria, mas de fato ela nunca funcionou. As mulheres sempre acumularam funções, sempre trabalharam dentro e fora das casas. Mesmo que esse trabalho fosse um trabalho vexatório, um trabalho invisibilizado, um trabalho em que a pessoa se sentia um pouco constrangida de dizer no que trabalhava. Hoje, a gente tem também as questões do neoliberalismo.
Já existe um acréscimo de questões passados mais de 100 anos do maternalismo. O colapso é porque – tirando aquele grupinho, do qual fazemos parte, de pessoas brancas, de classe média, média alta, que tem recursos – o que a gente vê são mulheres, nas periferias, negras, perdendo a guarda dos filhos, porque não conseguem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Provedoras dos cuidados e do dinheiro. A gente vê as crianças desassistidas, não porque as mães não queriam cuidar, mas porque elas não têm como conciliar tantas tarefas. A gente vê as crianças empurradas para as telas, porque não têm como dar atenção para a infância. A gente vê o adoecimento das mulheres. Alguma coisa que não está funcionando e está levando a muito sofrimento e a um preço muito alto para a nossa geração e para as próximas. Isso que estou chamando de colapso da maternidade.
Quais os impactos na vida das mulheres que não desejam ser mãe, nos dias de hoje? Alguma coisa mudou?
O que mudou é que hoje a mulher se sente no direito de poder dizer: “não quero ser mãe” ou “não serei mãe mesmo querendo”. Ela já entendeu que ser mulher não é ser mãe. Não é um sinônimo, a feminilidade dela não vai ficar provada pela maternidade. Isso é um fato, mas não significa que as outras pessoas tenham parado de cobrá-la dessa posição. Já existe um grupo de mulheres que não se identificam tanto com essa cobrança, que se assume no seu direito de ser mais do que mães. Mas a pressão para que elas respondam por isso continua.
Elas sentem a pressão, mas não se identificam com isso. Um homem tem que responder por que ele quer ter filho e se ele vai ter filho? Isso não acontece, a gente percebe a diferença. Do homem, a gente espera que ele seja um homem tendo filhos ou não. De uma mulher, a gente espera que ela seja mãe de qualquer jeito. De um lado isso está caindo, porque as mulheres estão assumindo, mas não quer dizer que a pressão não continue sendo forte.
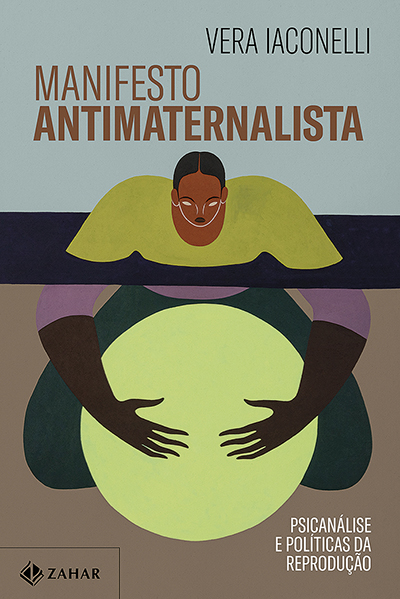
De que forma obras de ficção podem reforçar ou repensar papéis sociais, desde a maternidade ou uma ideia de feminilidade? Como a ficção é um campo que tanto pode reforçar, mas também fazer a gente refletir?
A ficção é maravilhosa e ela vai fazendo exatamente isso que você fala. Quando ela é uma obra de valor – ou seja, uma obra que vai permanecer ao longo da história – ela faz um retrato crítico do seu tempo e aponta para algo mais. Essas são as grandes obras, as que ficam. As que são pura catequese, pura tentativa de reforçar o pior, a gente até lembra delas, mas já não as utiliza tanto. Acho a arte fundamental para a gente pensar essas questões. Por exemplo, a gente acabou de ter A filha perdida, que foi um livro e um filme maravilhoso, e o que causou nas pessoas? Você tem a obra da Buchi Emecheta, que vai falar das alegrias da maternidade, com um sentido irônico e vai trazer também toda uma questão cultural.
Você tem obras mais antigas que cito no meu livro, Madame Bovary ou Anna Karenina, nas quais mulheres são penalizadas porque elas atravessam, elas deixam a maternidade um pouco de lado para viver uma sexualidade, uma vida amorosa, como fazem os homens. E os autores matam as duas. Eles matam suas heroínas, mas, ao mesmo tempo, também estavam mostrando, denunciando uma impossibilidade social. “Olha, tem alguma coisa que escapa aqui.” São heroínas inesquecíveis. Uma coisa interessante são as novelas. Muitas vezes, até para atrair audiência, criar polêmica, para ter likes, elas dão uma “avançadinha” no sinal e causam uma polêmica, trazem questões para a sociedade. Tanto que setores mais conservadores da população banem as novelas para não se confrontarem. Porque a arte, quando ela é de qualidade, tem sempre uma função crítica.
Como refletir sobre um tema como a maternidade considerando marcadores sociais, como raça, classe e gênero?
Começo o livro problematizando esse tema. A maternidade virou um guarda-chuva gigantesco, um tipo de cuidado, é uma instalação onde você tem um bebê. Mas quando a gente fala maternidade, a gente não pode pensá-la de um jeito homogêneo. Por considerarem-na um evento sagrado, um evento puro, tem toda uma idealização muito preocupante nesse sentido. Mas ela tem valores muito distintos. A gente tem uma “maternidade de primeira classe” e uma “maternidade de segunda classe”. A de primeira classe seria a da mulher branca, classe média alta, casada, cisgênero, heterossexual, genitora, mãe que pariu. Essas seriam figuras mais exaltadas, que a sociedade entende que tem que ajudar a ter filhos.
A parte da sociedade que normalmente é subalternizada, explorada, mulheres negras, periféricas, transsexuais, lésbicas, mães solos, não casadas, todas essas outras – que não são novas maternidades, sempre estiveram aí – vão sendo penalizadas, vigiadas, controladas, destituídas, criticadas. Essas diferenças mostram que a gente não pensa maternidade de um jeito homogêneo.
De acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, em 2021, mais de 160 mil crianças foram registradas sem o nome do pai, no Brasil. Como as lutas feministas implicam uma outra masculinidade e uma outra paternidade?
A gente não inventou ainda um bebê que nasça com menos de duas pessoas envolvidas, então, é muito vexatório que crianças saiam com a responsabilização – nem diria com o nome, mas com a responsabilização – de apenas um desses dois e que esse um seja exatamente a parte mais fragilizada na sociedade. As mulheres têm uma condição pior dentro da sociedade e elas são inteiramente responsabilizadas pelas próximas gerações. Através do feminismo, através dessa luta, mesmo que a mulher não se chame feminista, o que acontece é que quando ela reivindica um direito igual, quando ela denuncia uma injustiça por ela ser mulher, está participando de um movimento da sociedade civil.
O feminismo é um movimento sem armas, mas que transforma o mundo. E esse movimento tem levado os homens a serem obrigados a assumir a sua parte nos cuidados, através do divórcio, da guarda compartilhada. Isso tem um impacto sobre a paternidade, porque, na hora que você tem que cuidar, você sai um pouco do registro de um que provê financeiramente, e o outro cuida, na economia de cuidados. Isso criou a “nova masculinidade.” Na hora em que o homem se vê como o cuidador, ele pode repensar o que é ser homem. Ele sai do lugar daquele que só faz, acontece, luta, mata um leão por dia, e passa a ser o cara que vai lá, troca a fralda, dá a mamadeira, leva à escola. Ele acaba assumindo uma função que o humaniza mais, que o sensibiliza. A gente tem exemplos midiáticos importantes, como Lázaro Ramos, Rodrigo Hilbert, mostrando que um homem pode ser homem, nesse modelo que as pessoas querem ver, e ser um cuidador. Isso vai dando representatividade para essa “nova masculinidade.”
O déficit demográfico – ou seja, menos pessoas nascendo, no Brasil – impacta setores como a economia e a política. Como o capitalismo lida com isso?
Isso é muito importante. O déficit demográfico, como uma preocupação econômica dos países mais desenvolvidos no mundo inteiro, é um risco para o futuro das sociedades. Ele desmonta a ideia de que ter um filho é um assunto privado, particular, que só interessa àquela pessoa que decidiu. A chegada de uma nova geração para render a geração anterior é uma necessidade de toda sociedade que não queira se extinguir. O déficit demográfico, no Brasil, já começa a aparecer – em alguns países, ele é alarmante, como no Japão, em vários países da Europa, nos Estados Unidos começa também. Os governos vão reagir de formas diferentes, alguns de formas bem preocupantes, eu diria.
Por exemplo, quando você vê que, no mesmo momento que o déficit demográfico americano começa, pela primeira vez, depois de décadas de direito constitucional, cai o direito de fazer o aborto. O direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos entra em questão e é derrubado em alguns estados exatamente no momento em que o déficit demográfico aparece. Você vê quase uma obrigação da mulher de continuar parindo bebês que elas não queiram. Tem países que vão tentar incentivar financeiramente, quando você tem mais de três filhos. Através da licença parental, através de subsídios, de apoios. Países que vão tentando pagar um serviço – porque, na verdade, é disso que se trata, né? Para a mulher ir trabalhar e ganhar o dinheiro dela, tem que pagar a alguém para cuidar do filho dela. Ou ela tem que ficar em casa e não ganhar.
Uma questão financeira que está colocada no momento em que o Estado tenta compensar financeiramente. Mas, mesmo assim, não está funcionando, porque não se trata só da questão financeira. As mulheres não querem ser cidadãs de segunda classe, elas não querem sofrer uma pressão de julgamento sobre como têm que cuidar, uma responsabilização imensa sobre a prole. Mesmo quando elas têm algum tipo de fomento, sabem que isso não vai compensar. Esses incentivos não estão tendo todo o efeito que se imagina, porque a gente precisa mudar o modelo.
Erika Muniz é jornalista formada em Letras. Pesquisa sobre cultura, assinando textos nas revistas Continente, O Grito!, Quatro Cinco Um e no Jornal do Commercio.