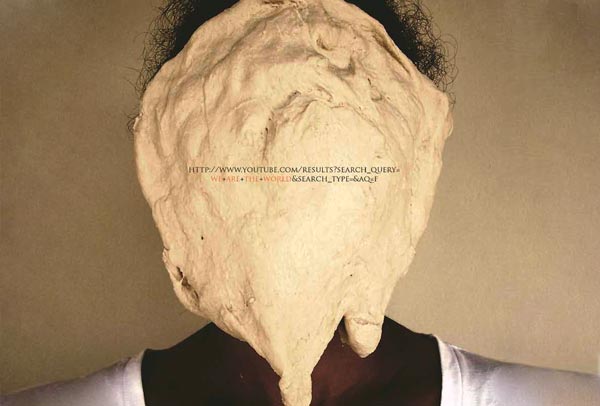
Mesmo com seus nichos, a internet não matou a ideia de uma cultura massiva
Ando lendo, de maneira mais frequente do que acho que deveria, um certo entusiasmo em atestar o fim da massa. Com a disseminação da cibercultura, das redes telemáticas, das redes sociais, me parece que há algo, sobretudo na Academia, sugerindo um novo estatuto nas relações sociais. Autores que vêm estudando os fenômenos da cibercultura, ávidos por novidades e por conceitos que legitimem seus pontos de vista, seguem apontando em direção àquilo que sempre foi o “calo” das ciências humanas: o prefixo “pós”. Colocaram um “pós” na massa e geraram o termo “pós-massivo”, tentando arregimentar uma suposta superação do coletivo, da multidão, daquilo que o massivo representa. Como ninguém convenceu a todos de que havia necessidade de criar o termo pós-modernidade para falar de uma certa superação da modernidade, também acho difícil que “cole”, de maneira indiscriminada, a noção de pós-massivo em detrimento do massivo.
A questão aqui me parece ser um jogo de distinção, como gostaria que víssemos o nosso cientista social Pierre Bourdieu, muito mais do que uma aposta acadêmica. Falar hoje em nome do pós-massivo, do telemático, das maravilhas da internet, da robótica, da inteligência artificial, soa muito mais up-to-date na Academia.
Massivo? Pensar a massa? A quem interessa? É tudo tão ultrapassado, não? Para que estudar televisão, rádio, fotografia, mídia impressa, se a internet agrega tudo isso? Vejo programas de TV na internet, ouço rádio na internet, vejo coleções de fotografia inteiras na internet. Se consigo fazer tudo na internet, se toda a vida social navega pela rede, então, de que adianta estudar as formas, digamos, presenciais de cultura?
Tudo é cibercultura, morte àquilo que não é ciber.
— Pronto, aqui temos um problema.
Nunca me convenço quando falam na morte de algo. Lembro logo daquele texto canônico de Roland Barthes, A morte do autor, que causou um certo furor na Academia na época e que, depois, muito depois, Barthes ou seus estudiosos, foram dizer que, não, não havia morte nenhuma do autor. Tratava-se de uma espécie de morte simbólica, uma morte, assim, somente para uma parcela da comunidade acadêmica que insistia em ler um texto literário indo “em busca” do que “o autor quis dizer com aquilo”. Acho que com morte não se brinca. E sou quase adepto do princípio de que, se não morreu, é preciso dar vida. Talvez isso seja um dos motivos pelos quais hesito muito em aceitar de maneira irrestrita a convocação de que, assim como o autor morreu, a massa morreu.
Tudo agora seria pós-massa, o senso de coletividade estaria em declínio.
A noção de massa, como pensada na Sociologia e na Comunicação, remonta ao pensamento de Auguste Comte, já no século 19 e traz à tona a perda de um senso do indivíduo para a coletividade, algo como um conjunto de pessoas indissociáveis, indiferenciáveis, que passam a adotar padrões de comportamento e estilos de vida semelhantes, mesmo vivendo em contextos culturais distintos. A massa pode ser pensada a partir da Revolução Industrial, da padronização da vida nas cidades, da divisão do trabalho.
Com a circulação da informação, da imprensa e dos meios de radiodifusão, tem-se o que Harold Lasswell chama, em seu clássico texto Propaganda: techniques in the world war, de 1927, de “meios de comunicação de massa”. A televisão e o cinema viriam somar às mídias impressas e radiofônicas e se tornariam o triunfo do sistema massivo de comunicação.
Os meios de comunicação exerceriam funções sociais, a partir das demandas e dos fluxos comunicacionais.
No caso dos meios de comunicação de massa, tem-se o fluxo centralizado de informação, com o controle do polo da emissão por grandes empresas em processo de competição entre si, já que são financiadas pela publicidade. Como atesta André Lemos, “busca-se, para manter as verbas publicitárias, sempre o hit, o sucesso de ‘massa’, que resultará em mais verbas publicitárias e maior lucro”. No entanto, com a chegada da internet e da chamada cibercultura, há autores como Pierre Lévy, Dominique Wolton e o próprio André Lemos que propagam a ideia de que o conceito de massa estaria superado.
Estaríamos vivendo na sociedade pós-massiva, em que os sistemas de comunicação funcionariam a partir de redes telemáticas, onde qualquer um pode produzir informação, “liberando” o polo da emissão. As funções pós-massivas não estão centradas sobre um território específico, mas virtualmente sobre o planeta. O produto é personalizável e, na maioria das vezes, insiste em fluxos comunicacionais bidirecionais (todos-todos), diferente do fluxo unidirecional (um-todos) das mídias de função massiva.
Experiências na internet com blogs, gravadoras e músicos, softwares livres, podcasting, wikis, entre outras, mostram as mídias de função pós-massivas.
Essas vão insistir em três princípios fundamentais da cibercultura: a liberação da emissão, a conexão generalizada e a reconfiguração das instituições e da indústria cultural de massa.
— Tenho a impressão de que compartimentar as lógicas sociais em Massiva e Pós-Massiva só tira a dinâmica de tudo. Acho que o interessante é, justamente, reconhecer como estas duas instâncias se problematizam, se atritam e, indiscriminadamente, se completam.
E então, volto a tocar no ponto de que a classificação, a nomeação, só parecem tirar o fluxo dinâmico da vida. Insisto em reconhecer que chamar este período em que vivemos de Pós-Massivo é quase uma afronta ao que há de mais ordinário no dia-a-dia: a nossa cotidianidade. Enquanto autores insistem em dizer que não há mais um senso de perda da individualidade para a coletividade, entro na plataforma social do microblog Twitter, que nada mais é do que sermos um indivíduo num grande mar coletivo. Leio que a perspectiva é de que 25 milhões de pessoas, até o ano que vem, estejam conectadas no Twitter. E percebo o interesse institucional – empresas, marcas, braços corporativos – em comunicar via Twitter. Twittar significa falar para muitos, para uma coletividade fluida e autorreferente. Identifico os múltiplos interesses sobre o Twitter: escritores e poetas têm a chance de criar micronarrativas, microcontos; jornalistas estão plugados com a informação 24 horas ao dia; pessoas expõem suas idiossincrasias para muitos; marcas podem saber o seu índice de popularidade nos trending topics (os tópicos mais comentados). O Twitter, me parece, trai a ideia de Pós-Massivo porque todo o anseio dos usuários é para o coletivo. É falar para muitos, é ter, mesmo que distante, a utopia de que se está diante da multidão. Alone with everybody, já havia cantado Richard Ashcroft.
FENÔMENO
Mas penso que o Twitter é um fenômeno muito recente e que a noção de Pós-Massivo é, naturalmente, mais antiga. Volto então, para alguns fenômenos menos urgentes. O Youtube, por exemplo: uma plataforma de vídeos digitais em que se postam trechos, produtos audiovisuais e que todos com acesso à internet e com uma conexão média podem assistir online. O Youtube seria o trunfo do que se convencionou chamar de Pós-Massivo: havia nele a utopia da liberação do polo de emissão, a promessa de reconfiguração da indústria da música e da televisão.
No Youtube, todos podem postar, eu, você, nossos filhos, sobrinhos, todos, indiscriminadamente. E então, não sei bem por que, mas de alguma forma meio obscura, o Youtube passa a funcionar como uma espécie de memória nostálgica coletiva: vídeos muito antigos, propagandas da TV quase esquecidas, aquela cena da novela que tinha “parado” o Brasil, aquela gafe de um jornalista ao vivo no ar, e que ninguém lembrava. Estava tudo lá, disponível a qualquer hora, de qualquer lugar.