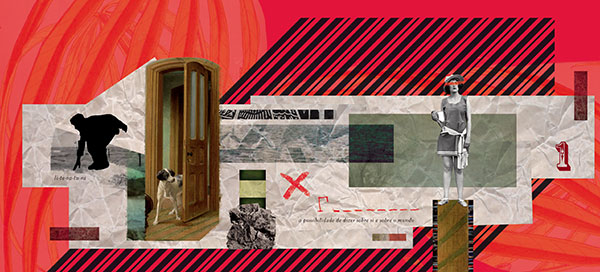
Desde os tempos em que era entendida como instrumento de afirmação da identidade nacional até agora, quando diferentes grupos sociais procuram se apropriar de seus recursos, a Literatura brasileira é um território contestado. Muito além de estilos ou escolhas repertoriais, o que está em jogo é a possibilidade de dizer sobre si e sobre o mundo, de se fazer visível dentro dele. Hoje, cada vez mais, autores e críticos se movimentam na cena literária em busca de espaço — e de poder, o poder de falar com legitimidade ou de legitimar aquilo sobre o que se fala. Daí os ruídos e o desconforto causados pela presença de novas vozes, vozes “não autorizadas”; pela abertura de novas abordagens e enquadramentos para se pensar a Literatura; ou, ainda, pelo debate da especificidade do literário, em relação a outros modos de discurso, e das questões éticas suscitadas por esta especificidade.
É difícil pensar a Literatura brasileira contemporânea sem movimentar um conjunto de problemas, que podem parecer apaziguados, mas que se revelam em toda a sua extensão cada vez que algo sai de seu lugar. Isso porque todo espaço é um espaço em disputa, seja ele inscrito no mapa social ou constituído numa narrativa. Daí o estabelecimento das hierarquias, às vezes tão mais violentas quanto mais discretas consigam parecer: quem pode passar por esta rua, quem entra neste shopping, quem escreve literatura, quem deve se contentar em fazer testemunho. A não concordância com as regras implica avançar sobre solo alheio, o que gera tensão e conflito, quase sempre muito bem disfarçados. Por isso, a necessidade de se refletir sobre como a Literatura brasileira contemporânea e os estudos literários se situam dentro desse jogo de forças, observando o modo como se elabora (ou não se elabora, contribuindo para o disfarce) a tensão resultante do embate entre os que não estão dispostos a ficar em seu “devido lugar” e aqueles que querem manter seu espaço descontaminado.
Para isso, é preciso dizer, em primeiro lugar, que o campo literário brasileiro ainda é extremamente homogêneo. Sem dúvida, houve uma ampliação de espaços de publicação, seja nas grandes editoras comerciais, seja a partir de pequenas casas editoriais, em edições pagas, blogs, sites etc. Isso não quer dizer que esses espaços sejam valorados da mesma forma. Afinal, publicar um livro não transforma ninguém em escritor, ou seja, alguém que está nas livrarias, nas resenhas de jornais e revistas, nas listas dos premiados dos concursos literários, nos programas das disciplinas, nas prateleiras das bibliotecas. Basta observar quem são os autores que estão contemplados em vários dos itens citados, como são parecidos entre si, como pertencem a uma mesma classe social, quando não têm as mesmas profissões, vivem nas mesmas cidades, têm a mesma cor, o mesmo sexo...
Só para citar alguns números, em todos os principais prêmios literários brasileiros — Portugal Telecom, Jabuti, Machado de Assis, São Paulo de Literatura, Passo Fundo Zaffari & Bourbon —, entre os anos de 2006 e 2011, foram premiados 29 autores homens e apenas uma mulher (na categoria estreante, do Prêmio São Paulo de Literatura). Foram contabilizados aqui apenas os primeiros colocados nas categorias principais de cada prêmio. (No caso do Prêmio São Paulo de Literatura, uma vez que são excludentes entre si, foram consideradas como principais tanto a categoria “livro do ano” quanto a “autor estreante”.) Mas as proporções não seriam muito diferentes, caso fossem incluídos segundos e terceiros lugares ou as categorias parciais (“melhor romance”, “melhor livro de contos” etc.). Outra pesquisa, mais extensa, realizada sob minha coordenação na Universidade de Brasília, mostra que de todos os romances publicados pelas principais editoras brasileiras, em um período de 15 anos (de 1990 a 2004), 120 em 165 autores eram homens, ou seja, 72,7%. Mais gritante ainda é a homogeneidade racial: 93,9% dos autores são brancos. Mais de 60% deles vivem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quase todos estão em profissões que abarcam espaços já privilegiados de produção de discurso: os meios jornalístico e acadêmico.
Por isso, a entrada em cena de autores, ou autoras, que destoam desse perfil causa desconforto quase imediato. Pensem no senhor que conserta sua geladeira, no rapaz que corta seu cabelo, na sua empregada doméstica — pessoas que certamente têm muitas histórias para contar. Agora colem o retrato deles na orelha de um livro, coloquem seus nomes em uma bela capa, pensem neles como escritores. A imagem não combina, simplesmente porque não é esse o retrato que estamos acostumados a ver, não é esse o retrato que eles estão acostumados a ver, não é esse o retrato que muitos defensores da Língua e da Literatura (tudo com L maiúsculo, é claro) querem ver. Afinal, nos dizem eles, essas pessoas tem pouca educação formal, pouco domínio da língua portuguesa, pouca experiência de leitura, pouco tempo para se dedicar à escrita.
E, ainda assim, alguns deles escrevem e publicam e tanto insistem que acabam atraindo nossa atenção, porque, como diz o rapper Emicida, “uma frase bonita escrita com a grafia errada continua bonita”. Mas não é fácil aceitar isso. Afinal, o domínio da norma culta serve como fator de exclusão e há quem se beneficie com isso. Aqueles que valorizam a si próprios por saberem usar a norma culta da língua não têm interesse em desvalorizar essa vantagem, conquistada, às vezes, com muito esforço. Não é raro que, em sala de aula, algum aluno se refira à Carolina Maria de Jesus, por exemplo, como “escritora semianalfabeta”, como se alguém capaz de escrever livros com a força e a beleza de Quarto de despejoou Diário de Bititafosse ser analfabeto só por escapar, vez ou outra, daquilo que é determinado pelo Vocabulário ortográficoda Academia Brasileira de Letras.
Está em atuação, neste caso, o controle do discurso, que é a negação do direito de fala àqueles que não preenchem determinados requisitos sociais: uma censura social velada, que silencia determinados grupos sociais. Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, “entre as censuras mais eficazes e mais bem dissimuladas situam-se aquelas que consistem em excluir certos agentes de comunicação excluindo-os dos grupos que falam ou das posições de onde se fala com autoridade”. O importante é perceber que não se trata apenas da possibilidade de falar — que é contemplada pelo preceito da liberdade de expressão, incorporado no ordenamento legal de todos os países ocidentais — mas da possibilidade de “falar com autoridade”, isto é, o reconhecimento social de que o discurso tem valor e, portanto, merece ser ouvido.
O processo se completa graças à introjeção dos constrangimentos estruturais pelos agentes sociais, que faz com que os limites impostos ao discurso não sejam excessivamente tensionados, já que cada um, via de regra, mantém-se dentro de seu espaço autorizado. É assim que determinadas categorias sociais que são excluídas do universo da política — trabalhadores e mulheres, por exemplo — tendem a se julgar incapazes de ação política e, portanto, a aceitar a posição de impotência em que foram colocadas. O mesmo se pode dizer da expressão literária. Aqueles que estão objetivamente excluídos do universo do fazer literário, pelo domínio precário de determinadas formas de expressão, acreditam que seriam também incapazes de produzir literatura. No entanto, eles são incapazes de produzir literatura exatamente porque não a produzem: isto é, porque a definição de literatura exclui suas formas de expressão.
Pensem no quanto é grande o desejo de escrever para que essas pessoas se submetam a isso — a fazer o que “não lhes cabe”, aquilo para o que “não foram talhadas”. Imaginem o constante desconforto de se querer escritor, ou escritora, em um meio que lhe diz o tempo inteiro que isso é “muita pretensão”. Daí as suas obras serem marcadas, desde que surgem, por uma espécie de tensão, que se evidencia, especialmente, pela necessidade de se contrapor a representações já fixadas na tradição literária e, ao mesmo tempo, de reafirmar a legitimidade de sua própria construção. E isso aparece seja no interior da narrativa: “É preciso conhecer a fome para descrevê-la”, dizia Carolina Maria de Jesus; seja em prefácios, como os de Ferréz, que defende a importância de deixar de ser um retrato feito pelos outros e assumir de vez a construção da própria imagem; ou mesmo em manifestos, como o de Sérgio Vaz, que diz que “a arte que liberta não pode vir da mão que escraviza”; e há ainda as apresentações dos livros, as orelhas e os textos da quarta de capa que reforçam isso, explorando a ideia do lugar de fala do escritor.
E então começa um outro problema, o nosso problema como pesquisadores de Literatura. Ao estudar um escritor, ou uma escritora, nessa situação — uma Conceição Evaristo no início de carreira, por exemplo, mulher, negra, pobre, moradora da periferia de Belo Horizonte, ex-empregada doméstica — precisamos transferir para sua obra nossa própria legitimidade como estudiosos. Sem isso, não conseguimos trazê-la para dentro do universo acadêmico, e se ela não estiver legitimada enquanto objeto de estudo, um estudante de pós-graduação, por exemplo, não terá como inclui-la em sua dissertação ou tese. É o contrário do que acontece quando trabalhamos com um autor consagrado, um Guimarães Rosa, para ficarmos com outro exemplo de Minas Gerais. Nesse caso, é o objeto de análise que nos confere importância como pesquisadores. É ele quem nos assegura um espaço no mundo acadêmico.
Em suma, para acolhermos um autor/autora dissonante, temos de fazer um investimento — o que tem seus custos. É um investimento simbólico diante de nossos pares, ou seja, outros pesquisadores reconhecidos, que podem discordar radicalmente de nossa valoração dessa obra, e por isso nos enquadrar em nichos menos valorizados dentro da academia (em vez de estudiosos literários, passamos a ser vistos como “aquelas feministas”, “aquele pessoal dos estudos culturais”, “aquele grupo que faz Sociologia da Literatura”). E isso se repete, sem parar, em outros espaços, ou entre outros agentes do campo literário: em meio a uma reunião de pauta na editoria de um jornal; ao lado de outros jurados em um concurso literário; junto a colegas que selecionam livros para o vestibular, para constar da bibliografia de um concurso, para serem comprados pelo Ministério da Educação, para serem lidos pela turma do terceiro ano de alguma escola.
Voltando ao terreno das pesquisas — um espaço importante para conferir legitimidade a uma obra ou a um autor, uma vez que são elas que alimentam o processo da educação superior, que, por sua vez, forma, ininterruptamente, novos agentes do campo literário —, após decidir correr o risco com determinado autor, temos um novo problema: como abordar a obra? Bem antes de optar por quaisquer das abordagens teóricas e metodológicas possíveis, é preciso decidir por dois caminhos: podemos desconsiderar o julgamento de valor estético sobre a obra e analisá-la a partir de sua especificidade, sem hierarquizá-la dentro de códigos ou convenções dominantes, ou, ao contrário, usar as convenções estéticas mais arraigadas no campo literário para referendar essa obra dissonante, mostrando que ela poderia, sim, fazer parte do conjunto de produções culturais e artísticas consagradas na sociedade, desde que olhada sem preconceito.
São, ambos, procedimentos legítimos, embora este último incorra em algumas dificuldades: em primeiro lugar, a necessidade permanente de se fazer todo um arrazoado a cada análise de uma obra para referendá-la. Ou seja, são páginas e páginas para dizer “isto é Literatura”, antes de começar a discutir o texto — o que não é, absolutamente, exigido na análise de um autor melhor situado no campo literário (quer dizer, homem, branco, de classe média, morador do Rio de Janeiro e São Paulo, publicado por editoras mais centrais etc.). Com isso, mantém-se, de algum modo, inalterada a hierarquia dentro do campo literário, criando entraves à sua democratização. A necessidade de justificar a qualidade estética da obra também pode ser um empecilho para inclui-la dentro de uma discussão mais geral sobre aspectos considerados relevantes para serem analisados: a elaboração do espaço em diferentes narrativas, a construção do tempo, do narrador, das personagens etc. Parar a discussão para justificar a presença de um ou outro autor é contraproducente.

Talvez por isso Carolina Maria de Jesus não apareça em estudos literários sobre a representação do espaço urbano contemporâneo, por exemplo, embora tenha reconstruído com detalhes e poesia algumas das ruas de São Paulo. Da mesma forma que ela não figura nos estudos feministas sobre a maternidade, apesar dessa questão impregnar toda a sua obra. O problema é que mesmo quem estuda autores(as) que estão à margem do campo literário brasileiro muitas vezes insiste em fazê-lo de modo isolado, discutindo-os no âmbito das margens — com isso, não estabelecemos a fricção necessária entre representações literárias provenientes de diferentes espaços sociais. E, assim, deixamos de observar a tensão entre essas construções, abandonando, ao mesmo tempo, a possibilidade de tornar mais completo o quadro sobre a Literatura brasileira contemporânea.
Assim, tomar a obra de uma Carolina Maria de Jesus e mostrar como ela pode ser altamente avaliada com base nos critérios de julgamento estético mais tradicionais pode ser eficaz para forçar algumas margens do campo, mas incorre numa armadilha. Acabamos por referendar estes critérios, aceitá-los em sua pretensa universalidade — e ficamos em posição pior para dar o passo seguinte, que é questionar esses mesmos parâmetros de julgamento estético, que são, eles próprios, reflexos de exclusões históricas. E faço aqui um parêntese para dar um exemplo de outro campo, o político: Anne Phillips lembra que no movimento sufragista, um argumento em favor do voto feminino assinalava que as mulheres serviam ao Estado na qualidade de mães (e até podiam morrer no parto, como os homens podiam morrer no campo de batalha). Um discurso de forte apelo na época, que contribuiu para a vitória do movimento, mas que fez com que as mulheres se integrassem à política como ocupantes de um nicho específico e, na verdade, subalterno: um nicho que as mantinha presas à esfera doméstica. Ou seja, a opção por utilizar um facilitador no embate político, apelando para argumentos que se fundavam no senso comum e evitando questionar pressupostos nocivos ou errôneos, contribuiu para a conquista de um direito, mas gerou dificuldades para avanços futuros.
Por isso, talvez seja mais produtivo percorrer o primeiro caminho — que é também o mais difícil —, desconsiderando os modelos de valoração estética nascidos da apreciação das “grandes obras” e partindo para um questionamento do nosso conceito de Literatura. Afinal, como já disse, a definição dominante de Literatura circunscreve um espaço privilegiado de expressão, que corresponde aos modos de manifestação de alguns grupos, não de outros, o que significa que determinadas produções estão excluídas de antemão.
Perde-se, com essas restrições, em diversidade. Há muito tempo, a narrativa vem perseguindo a multiplicidade de pontos de vista; alguns dos romances mais lembrados do século que passou são justamente os que mais se aproximaram desta meta. Só que, do lado de fora da obra, não há o contraponto; quer dizer, não há, no campo literário, uma pluralidade de perspectivas sociais. De acordo com a definição de Iris Marion Young, o conceito de “perspectiva social” reflete o fato de que “pessoas posicionadas diferentemente [na sociedade] possuem experiência, história e conhecimento social diferentes, derivados desta posição”. Assim, mulheres e homens, trabalhadores e patrões, velhos e moços, negros e brancos, portadores ou não de deficiências, moradores do campo e da cidade, homossexuais e heterossexuais, umbandistas e católicos vão ver e expressar o mundo de diferentes maneiras. Mesmo que outros possam ser sensíveis a seus problemas e solidários, nunca viverão as mesmas experiências de vida e, portanto, verão o mundo social a partir de uma perspectiva diferente.
Esta preocupação com a diversidade de vozes não é um mero eco de modismos acadêmicos, mas algo com importância política. Pelo menos duas justificativas para tal importância podem ser dadas. Em primeiro lugar, a representação artística repercute no debate público, pois pode permitir um acesso à perspectiva do outro mais rico e expressivo do que aquele proporcionado pelo discurso político em sentido estrito. Como isso pode ser alcançado e quais seus desdobramentos possíveis, tanto em termos literários quanto sociais, é algo que permanece em aberto, mas essa parece ser uma das tarefas da arte, questionar seu tempo e a si mesma, nem que seja através do questionamento de nossa própria posição.
Em segundo lugar, como apontou Nancy Fraser, a injustiça social possui duas facetas, ainda que estreitamente ligadas, uma econômica e outra cultural. Isto significa que a luta contra a injustiça inclui tanto a reivindicação pela redistribuiçãoda riqueza como pelo reconhecimentodas múltiplas expressões culturais dos grupos marginalizados: o reconhecimento do valor da experiência e da manifestação desta experiência por mulheres, trabalhadores, negros, índios, gays, deficientes. A Literatura é um espaço privilegiado para tal manifestação, pela legitimidade social que ela ainda retém. Daí a necessidade de democratizar o fazer literário — o que, no caso brasileiro, inclui a universalização do acesso às ferramentas do ofício, isto é, o saber ler e escrever.
É claro que a exclusão de determinados grupos não é algo exclusivo do campo literário. As classes trabalhadoras, as mulheres, os negros possuem maiores dificuldades para acesso a todas as esferas de produção discursiva: estão sub-representados no parlamento (e na política como um todo), na mídia, no ambiente acadêmico. O que não é uma coincidência, mas um índice poderoso de sua subalternidade. Foucault já observava a centralidade do domínio do discurso nas lutas políticas travadas dentro da sociedade; segundo ele, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo para que, por que se luta”. No entanto, da mesma forma que é possível pensar na democratização da sociedade, incluindo novas vozes e mesmo presenças na política, na mídia, nas universidades, podemos imaginar a democratização da Literatura. A inclusão, no campo literário talvez ainda mais do que nos outros, é uma questão de legitimidade. Neste sentido, a crítica e o trabalho acadêmico não são desprovidos de relevância — uma vez que são espaços importantes de legitimação.
São essas vozes, que se encontram nas margens do campo literário, essas vozes cuja legitimidade para produzir Literatura é permanentemente posta em questão, que tensionam, com a sua presença, nosso entendimento do que é (ou deve ser) o literário. É preciso aproveitar esse momento para refletir sobre nossos critérios de valoração, entender de onde eles vêm, por que se mantêm de pé, a que e a quem servem... Afinal, o significado do texto literário — bem como da própria crítica que a ele fazemos — se estabelece num fluxo em que tradições são seguidas, quebradas ou reconquistadas e as formas de interpretação e apropriação do que se fala permanecem em aberto. Ignorar essa abertura é reforçar o papel da — Literatura como mecanismo de distinção e da hierarquização social, deixando de lado suas potencialidades como discurso desestabilizador e contraditório.