
I
“Estou escrevendo um ensaio sobre a arte do erro na literatura latino-americana”, digo, poucos minutos depois que eu e Rafael Gutiérrez Giraldo sentamos para conversar. Ele me olha em silêncio por uns momentos e responde: “Você precisa falar da novelita de César Aira, El error”. Eu também paro em silêncio por alguns momentos, pensando, até responder que meu objetivo principal no ensaio é uma discussão da crítica literária latino-americana das últimas décadas como uma “arte do erro”, até que Rafael me interrompe e completa: “Mas todas as novelitas de Aira são, também, textos de crítica literária”. Rafael é conhecido como o “Oráculo do Maciço da Tijuca”; eu certamente não sou o primeiro – nem serei o último – a ter as ideias transformadas depois de uma breve conversa. A concepção de “erro” que eu estava considerando dizia respeito a um sentido amplo, não apenas o oposto do “certo”: o erro como desvio, atalho, como uma chance de tomar um percurso não considerado inicialmente, e assim por diante. O primeiro erro a ser analisado, portanto, era aquele que dizia respeito às fronteiras entre crítica e ficção.
Um livro como Salvatierra (Todavia, 2021; tradução de Mariana Sanchez), de Pedro Mairal, por exemplo: uma criança fica muda após um acidente e, aos 20 anos, começa a pintar em segredo, deixando de herança para seus descendentes um galpão cheio de pinturas, rolos de tela que chegam a medir mais de 3 quilômetros de comprimento. Um artista autodidata que, em certo sentido, não existe, que não pode existir, na medida em que não segue as regras estabelecidas – ao longo de 60 anos, trabalha todos os dias pintando em seu galpão, sem mostrar a ninguém, sem fazer uma exposição sequer, sem críticas ou comentários ou detratores. Depois da morte de Salvatierra, durante a análise de seu legado, é constatado um erro em seu corpus, uma lacuna. Um dos rolos de sua pintura não é encontrado, o equivalente a um dia de trabalho, e esse vazio se transforma no combustível da ficção. Um narrador é instaurado para que a investigação possa acontecer, para que essa lacuna possa ser descrita, comentada, talvez solucionada – embora não seja a solução final o mais importante, e, sim, o percurso realizado pelo narrador para resgatar esse dia perdido de Salvatierra.
A descrição do método de trabalho de Salvatierra já é uma reflexão crítica sobre a arte e sua multiplicidade de horizontes e processos. Ele “não se permitia voltar atrás”, escreve Mairal, e continua: “Se não gostava de algo que havia pintado, tornava a pintá-lo mais adiante com alguma variação, mas não corrigia por cima. As coisas pintadas eram inalteráveis, como o passado. Às vezes, na tela, essa força que empurra para a frente como uma torrente é tanta que as coisas começam a se inclinar, a perder peso”. Na dimensão do discurso da crítica, nada é inalterável; tudo está aberto à transformação, à revisão, e essa é uma das principais diferenças com relação à sucessividade compulsória do registro biográfico. Salvatierra também era consciente dessa tensão, já que “concebia sua tela como algo demasiado pessoal, como um diário íntimo, uma autobiografia ilustrada”: “Talvez devido à sua mudez, Salvatierra precisava narrar a si mesmo. Contar sua própria experiência num mural contínuo. Estava satisfeito por pintar sua vida, não precisava mostrá-la. Viver sua vida, para ele, era pintá-la”. É como escreveu Ricardo Piglia em Formas breves: “O crítico é aquele que encontra sua vida no interior dos textos que lê”.
II
A ideia da crítica como uma “arte do erro” é uma moeda que passou por muitas mãos, tendo encontrado uma encarnação recente na coletânea Una corteza de paraíso (1951-1979), do escritor, ensaísta, poeta e tradutor argentino Héctor Álvarez Murena (1923-1975). A edição é de 2018 e foi organizada por María Negroni e Federico Barea; a primeira escreve no prólogo: Murena sempre quis “ler e ser lido no desvio, em um permanente deslocamento, como uma flutuação não harmônica”, fugindo de “qualquer síntese, identidade ou sistema”. À semelhança de Salvatierra, a figura de artista construída por Murena é a de alguém que nunca está na posição mais confortável, alguém que recusa a própria fixidez do conforto, e que procura traduzir discursivamente essa recusa da fixidez. Diante de um contexto de recepção que trabalha a partir de posições previamente determinadas – que são utilizadas para estruturar aquilo que o presente oferece –, um artista dessa natureza estará sempre “em erro”.
Essa inconstância é um dos avatares da “criatividade”, do impulso de seguir em frente custe o que custar, como aquele já visto com Salvatierra (“Se não gostava de algo que havia pintado, tornava a pintá-lo mais adiante com alguma variação, mas não corrigia por cima”). É também o caso do músico de O perseguidor, um dos contos que Julio Cortázar coloca em seu livro As armas secretas, envolvido na angústia de colocar em palavras a especificidade da relação entre arte e tempo, quando declara: “Eu já toquei isso amanhã”. Ou quando Walter Benjamin, sempre tão atento a essas estratégias de erro e desvio na arte, escreve que Robert Walser jamais corrigiu uma única linha nos seus escritos: “a descoberta de que escrever e jamais corrigir o que foi escrito constitui a mais completa interpenetração de uma extrema ausência de intenção e de uma intencionalidade superior”.
Saio da casa de Rafael com um livro espetacular debaixo do braço, que começo a ler já na viagem de metrô – Temas lentos, coletânea de ensaios do escritor argentino Alan Pauls. Leio errado, saltando páginas, procurando nomes; leio de forma enviesada e egoísta, e sou recompensado. Encontro uma passagem na qual Pauls fala de César Aira nos seguintes termos: “Como Orfeu, Aira renuncia ao retorno, não volta atrás [...], se nega a corrigir, escolhe sempre a fuga para frente”. Aira transforma o “erro” em “procedimento”, nos moldes de artistas como Marcel Duchamp e Raymond Roussel, experimentando um modo de fazer literatura que opera como um mecanismo: uma página por dia, sem revisões, sem voltar atrás, sem “rebobinar”, como escreve Pauls. Esse desvio de base repercute na extensão editorial da obra de Aira, que publica uma média de dois livros por ano, com editoras variadas. Nesse aspecto, Aira também frustra expectativas, já que não apresenta uma figura homogênea de autor – publica com editoras multinacionais, com oficinas artesanais de cartoneros, com casas pequenas em países como México, Chile, Brasil...
Algumas páginas mais adiante, escrevendo sobre Manuel Puig, o espetacular autor de O beijo da mulher-aranha e A traição de Rita Hayworth, Pauls escreve: “Puig é o primeiro escritor argentino contemporâneo no qual erro e inovação são insuportavelmente sinônimos”. O erro de Puig está no modo como usa as convenções literárias em prol de um projeto de transformação completa daquilo que se entende por “literário”. Seus romances são feitos de fragmentos de conversas, de fofocas e escândalos; são feitos com pedaços de filmes, peças de teatro, telenovelas, revistas de moda e de celebridades; a linguagem é oscilante, vai do erudito ao popular, passando pelo televisivo, pelo sexual e pelo político, sempre manipulada por personagens atípicos, heterodoxos. Puig substitui o mito do artista como inventor ou descobridor pelo mito, “muito mais econômico e contemporâneo”, do artista que chega “muito tarde”, escreve Pauls.
Tudo já está feito, dito e constituído; o mundo está superpovoado “de pessoas, corpos, vozes, imagens”. Para dar conta disso, Puig usa seu “ouvido absoluto”, catando elementos díspares ao longo do caminho, montando seus romances a partir de energias descontínuas que recebem títulos como: Caderno de pensamentos de Herminia, 1948, Acontecimentos principais da vida de Leo, Problemas nervosos, e assim por diante. Puig não está interessado na “natureza” da literatura, em suas características pretensamente imutáveis; está interessado no “trabalho” da literatura, no mecanismo compulsivo que a faz trocar de posição constantemente. É por isso que Juan Carlos Onetti, em tom de crítica (como se denunciasse um erro), diz o seguinte a respeito de Puig: “Sei como falam os personagens de Puig, o que não sei é como escreve Puig”. Puig captura aquilo que circula pelo ambiente cacofônico da cultura de massas – gestos, gírias, teorias da conspiração –, processando a matéria bruta até transformá-la em romance, em linguagem (sempre errática, salteada, cheia de interpolações e impurezas).
Quando chego em casa depois da viagem de metrô com Pauls, vou à estante em busca do mágico livro de Josefina Ludmer, O corpo do delito: Um manual – lembrava vagamente que havia algo ali sobre Puig. Ludmer reconhece em Boquitas pintadas, por exemplo, o romance que Puig publica em 1969, uma “ideologia da transgressão”, um deliberado esforço de combinar a “violação dos tabus sexuais” com a “violação das normas discursivas”. Mas o principal “desvio” do romance, segundo Ludmer, está na exibição da passagem de uma “cultura da biblioteca” a uma “cultura dos meios audiovisuais”, uma reconfiguração do campo de alimentação do literário. É muito instrutivo colocar em contraste o juízo de Onetti e as ideias de Ludmer. De um lado, a ênfase na presença do Autor, seu estilo, sua marca, aquilo que o torna único e irrepetível; de outro, a ênfase na multiplicidade e na incerteza das posições narrativas, indício precisamente da mudança de “cultura”. O texto de Puig, continua Ludmer, é “um texto sobre os signos e a circulação”, e não um texto que leva em direção à afirmação peremptória de um estilo ou presença. Trata-se de um “folhetim dos anos [19]60”, que questiona a categoria de “autor” pela via de uma “proliferação de narradores e cronistas que desmentem a existência de uma posição fixa de onde emanaria o discurso”.
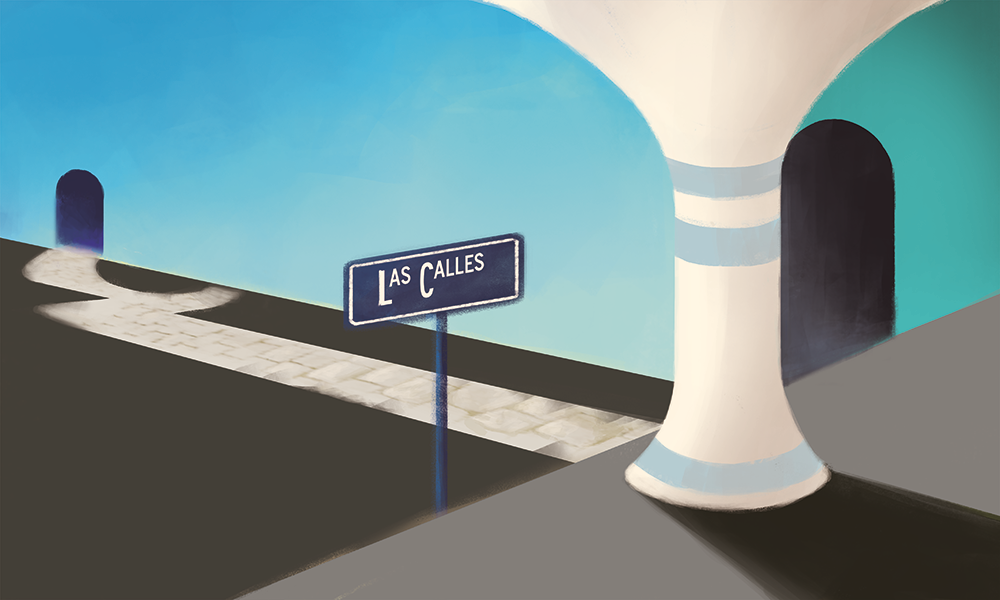
III
Uma vez em casa, no afã de chegar à estante para pegar o livro de Ludmer, demorei a notar que um pacote me esperava sobre a mesa da sala. São dois livros de Sylvia Molloy, que caem como uma luva nesse momento, já que estou escrevendo um ensaio sobre a arte do erro na literatura latino-americana: Figurações: Ensaios críticos e Desarticulações, seguido de Vária imaginação. São, na verdade, três livros – Desarticulações é de 2010, Vária imaginação é de 2003, e a edição brasileira condensou em um único volume (Editora 34, 2022; tradução de Paloma Vidal). Figurações, por sua vez, é um livro que só existe aqui, já que reúne alguns dos ensaios críticos de Molloy, organizados por Paloma Vidal (também para a Editora 34; tradução de Gênese Andrade). São 13 textos no total, publicados entre 1988 e 2020, divididos em quatro seções: a primeira sobre escrita autobiográfica, a segunda sobre figuras da literatura argentina, a terceira sobre questões de gênero e sexualidade, a quarta sobre Jorge Luis Borges (Molloy é autora de um dos melhores livros já publicados sobre Borges, Las letras de Borges y otros ensayos, que ainda aguarda tradução por aqui).
Já nas primeiras páginas de Desarticulações, na lista de conteúdos do volume, o brilho de uma afinidade formal que coloca a leitura sob a luz de uma bela estrela. A organização dos títulos dos breves capítulos os coloca lado a lado, em uma lista contínua, com evocações poderosas como Da necessidade de uma testemunha, Alfajores, Premonição, Desencanto, Nomes secretos. O leitor se encontra na iminência da abertura de uma espécie de caixa-preta, de uma arca dos segredos da infância – o que faz pensar, finalmente, no modo como Walter Benjamin organizou suas memórias em Rua de mão única, Infância em Berlim por volta de 1900 e Imagens de pensamento.
As memórias registradas em Desarticulações, contudo, são marcadas desde o início pelo equívoco e pela falha. A personagem principal é ML, uma amiga de longa data da narradora, que a visita com frequência para acompanhá-la em seus momentos de doença – ML sofre com o mal de Alzheimer. A vida passada é algo de heterogêneo, que pertence simultaneamente a duas vivências, duas perspectivas. É isso que, aos poucos, se “desarticula”; com o enfraquecimento da memória do “outro” é também parte do “eu” que se despede: “Não restam testemunhas de uma parte da minha vida, essa que sua memória levou com ela. Essa perda, que poderia me angustiar, curiosamente me libera: não há ninguém para me corrigir se eu decidir inventar”. O passado nunca esteve disponível para correção (como em Salvatierra, como em Aira); mas Molloy agora acrescenta um elemento novo: a degeneração orgânica de um cérebro renova as possibilidades de invenção, uma “criatividade” que deve passar, forçosamente, pelo luto e pelo abandono.
Vária imaginação, por sua vez, expande essa reflexão sobre a degeneração em direção ao passado profundo, familiar. “Morto meu pai”, escreve Molloy, “minha mãe se recolheu mais e mais em um mundo seu, feito de lembranças e, sobretudo, de conjecturas, invariavelmente catastróficas”. A lição de “literatura” começa já em casa, na cena doméstica, no malabarismo cotidiano dos afetos, quando a criança aprende sem saber que está aprendendo. Algo dessa dimensão está também em Manuel Puig, que costumava escrever seus livros na mesa da cozinha, assistindo televisão e conversando com sua mãe. Molloy volta a falar da mãe, que sabia pouco da sua vida – ela “supria o que eu não contava com a imaginação; e se preocupava”. Depois de alguns questionamentos oblíquos, a filha resolve “inventar um amante”, Julián: “minha mãe me perguntava muito de vez em quando por esse amante imaginário. Acho que reconhecia o artifício, mas, ao mesmo tempo, precisava acreditar nele. Depois de dois ou três anos, decidi acabar com o fingimento e disse a ela que Julián era, na realidade, uma mulher”.
O fragmento de Molloy é representativo de toda sua movimentação discursiva ao redor do tema da memória, feita de subterfúgios, fugas, recuos e confrontos. Mãe e filha vivem dentro de um reino de ficção, uma fabulação dos afetos que é feita de fragmentos heterogêneos, díspares, que vão mudando de valoração com o passar dos anos. O terreno da ficção é movediço e, ainda assim, surpreendentemente, fértil. Ao revisitar as cenas que dizem respeito a “Julián”, Molloy encontra uma cena muito anterior, quando ela está partindo para estudar na França em 1958. Molloy relembra o momento que soou o apito do navio, “chamando as visitas para desembarcarem”, o momento em que sua mãe a levou até um canto e disse: “na Europa, há mulheres mais velhas que procuram secretárias jovens, mas na realidade estão procurando outra coisa. Sem mais esclarecimentos, me deu um beijo e foi embora, deixando-me desconcertada”. É nesse “desconcerto” que se baseia uma vida compartilhada, uma convivência enviesada entre mãe e filha. Molloy retorna com frequência a essas frases ditas pela metade, abertas à interpretação, ao desvio, ao erro – são elas que tornam possível, por fim, a narração.
IV
A leitura dos ensaios de Figurações me toma horas; não consigo largar o livro até que esteja acabado, lido de capa a capa. Já no começo ela estabelece uma espécie de frase-guia, de epígrafe para a vida, uma “frase memorável” que ela encontra em Valery Larbaud, tradutor e poeta francês. “Dar um ar estrangeiro ao que se escreve”, disse ele, um conselho “brilhante”, escreve Molloy, “porque transformava o que eu percebia como falha em vantagem”, dando permissão para escrever “em tradução”, em uma posição desconfortável no interior da língua (como fizeram Nabokov e Beckett; como fazem Edgardo Cozarinsky e Jhumpa Lahiri).
Esse “ar estrangeiro” é o que buscará Sylvia Molloy também nos textos que lê. Estará sempre atenta aos elementos que escapam de certa convivência pisada e repisada, certo cultivo de atalhos e caminhos já conhecidos. Quando escreve sobre Alejandra Pizarnik, por exemplo, Molloy fala da “galeria de imagens que a crítica privilegia”: o desamparo, a fragilidade, a “loucura suicida”, avatares de uma “sinceridade” que circula de forma homogênea. Molloy não nega a validade dessas imagens, mas defende que elas são confrontadas por outras, pelas “autorrepresentações grotescas, as performances absurdas, vertiginosamente humorísticas” caras a Pizarnik. É preciso desviar da “Pizarnik única” para que o discurso crítico possa atuar sobre outras possibilidades de sentido dos textos. Nas palavras de Molloy, é preciso ver Pizarnik não apenas “a partir de Bataille”, mas também, e ao mesmo tempo, “a partir de Roussel, a partir de Jarry, a partir de Queneau”, escapando dos lugares-comuns da crítica. Em certo sentido, aquilo que Alan Pauls e Josefina Ludmer valorizam em Puig é também aquilo que Molloy reivindica para Pizarnik: a potência das piadas, dos chistes, das situações vulgares; o gozo estético que oferecem as situações cotidianas, banais, corriqueiras; a importância de colocar lado a lado o “bufão” e a “menina doente”.
Molloy chega a declarar que a “crítica desconfia” dos textos humorísticos de Pizarnik, textos que foram “excluídos” de seu corpus clássico, mas que seguem circulando. O modo de circulação também é “errado” e desviante, pois depende da memória dos interlocutores de Pizarnik, “em uma tradição oral que vai passando de grupo em grupo, e em cartas e papéis, alguns publicados, porém em sua maioria inéditos”. Esse diagnóstico é posicionado no final do ensaio, depois do leitor acompanhar o movimento no qual Molloy realiza aquilo que constata. Sua crítica, portanto, está tanto na ordem do discurso quanto na ordem do gesto, da performatividade: Molloy acessa a própria memória e seu arquivo de vivências ao lado de Pizarnik para “desbloquear” essa tradição oral a que faz referência. “Quando nós duas estávamos em Paris, no começo dos anos 1960”, escreve Molloy, “compusemos muitos textos juntas, textos cujo pretexto era, por assim dizer, um fiapo de realidade cotidiana, um resíduo, quase, que a vertigem literária disparava imediatamente rumo ao imprevisto”. As amigas se divertiam fazendo versos cômicos e/ou pornográficos a partir da cacofonia que circulava ao redor – nomes aleatórios, pedaços de vozes nas ruas e na televisão, fragmentos de textos nos jornais.
Na seção final do livro, com os ensaios sobre Borges, Molloy retorna a uma sorte de cena inaugural, aquela fundada pela obra do autor de Pierre Menard, autor do Quixote e Nova refutação do tempo. Borges foi mestre de “desassossego e marginalidade”, sumo sacerdote de “obliquidades e deslocamentos”, cuja lucidez “permitiu a ele (e aos que souberam entendê-lo) ver não coisas novas, mas coisas velhas com olhar novo”. Como faz com Pizarnik, também no caso de Borges ela recorre à autobiografia para reconfigurar o discurso crítico. Relembra o momento em que acompanhou Borges até sua casa, depois de um almoço com amigos. Evoca o deboche de Borges com relação a um “conhecido crítico” e sua história da literatura hispano-americana, cheia de “rebuscadas e nem sempre acertadas metáforas”. Nesse momento, Borges cita de memória um trecho dessa história, uma passagem na qual o autor joga com títulos de obras (“Norah Lange mergulha com ímpeto em La calle de la tarde...”). Molloy volta para casa maravilhada com a capacidade de Borges de guardar na memória tanto os erros quanto os acertos dos textos. Ela não resiste à curiosidade e vai buscar o original, o livro do “conhecido crítico”, para ver com os próprios olhos até que ponto é válido o deboche de Borges.
Molloy procura em vão, não encontra a citação que, no fim das contas, havia sido inventada por Borges. Encontra, porém, uma frase parecida (“María de Villarino se enfiou por uma Calle apartada...”), uma frase que “empalidecia ao lado do ‘original’ de Borges”, que “parecia uma imitação ruim”. É nesses paradoxos que transita a arte do erro, ocupando posições para logo abandoná-las, em um jogo de espelhos de atribuições errôneas e anacronismos deliberados. Falecida em 14 de julho de 2022, Molloy deixa como herança – entre muitas outras coisas – esses dois livros luminosos, repletos de ideias que ajudam a reconfigurar tanto o campo da crítica quanto o da ficção, mapa minado da linguagem desde que o mundo é mundo.