
O diabo decide fundar uma igreja, simetricamente inversa ao credo das outras religiões: o que antes era pecado passa a ser virtude, modificando a ordem das coisas, “fazendo amar as perversas e detestar as sãs”. Resolve comunicar o empreendimento a Deus que, magnânimo e paciente, não se perturba ante a comparação de que as virtudes são rainhas cujo manto de veludo tem franjas de algodão, por onde ele, diabo, vai puxá-las e trazê-las para a nova doutrina. O sucesso é espetacular: em pouco tempo o que era interdito passa a ser liberado e prazerosamente vivido – soberba, luxúria, preguiça etc. O diabo não cabe em si pela vitória. Aos poucos, no entanto, homens e mulheres passam a praticar, às escondidas, antigas virtudes. Furioso, o diabo vai de novo ao encontro de Deus para se queixar e recebe como resposta a mesma metáfora do manto, só que invertida: “As capas de algodão têm agora franjas de seda”, conclui Deus, que justifica a nova situação pela “eterna contradição humana”.
O jogo derrisório de oposições binárias entre vício e virtude é matéria do conto A igreja do Diabo, publicado por Machado de Assis há mais de um século em Histórias sem data (1884). O título do livro é uma irônica piscadela machadiana, que vai além da explicação que o autor lhe dá e, como é próprio à sua arte, torna-se premonitório, visto que o conto vale ainda hoje como aposta não apenas na contradição humana, mas na crítica ao dogmatismo e ao ridículo das posições de uma sociedade fechada ao contraditório, para usar uma palavra da moda. Não é difícil para o leitor encontrar nele vias de compreensão mais ampla da nossa condição atual. Deixemos que ele então se ocupe com essa tarefa.
Sempre penso nesse texto quando vejo discussões intransigentes, apoiadas em lugares-comuns, preconceitos e maniqueísmos de toda ordem. Uma das mais recentes diz respeito à pertinência ou não de os jovens lerem clássicos da literatura (brasileira) na escola. Posições a favor e contra inundaram as redes sociais e trouxeram à cena, em tempos de pandemia, uma questão que diante dela parece bizantina. Mas não é. Num país com um nível de leitura tão baixo como o Brasil, qualquer discussão que a tenha como tema é, no mínimo, um pequeno passo além da penúria reinante.
A premissa de que os clássicos são muito distantes da realidade do jovem que se vê obrigado a lê-los é falsa como é falacioso o argumento de que o tempo de recepção mais adequado de uma obra se encerra na época de sua produção, posições que se sustentam na ideia, equivocada, de que o clássico é imutável no seu modo de durar para sempre. Um clássico serve, antes de mais nada, para nos dizer quem somos e onde estamos e por isso os clássicos nacionais são importantes para confrontá-los aos estrangeiros e vice-versa, como queria Italo Calvino.
Aliás, a explicação mais convincente ainda hoje do que seja um clássico é a do escritor italiano, que, num texto famoso, no qual apresenta 14 definições e seus respectivos comentários, afirma que “um clássico é um livro que nunca terminou de dizer o que tem a dizer”. Permanece como “rumor de fundo”, mesmo no momento em que a velocidade comanda o ritmo de vida que não conhece mais os tempos longos do “otium humanista” propício à leitura, como na situação ideal, irrepetível, do grande poeta Leopardi que, no século XIX, tinha toda a biblioteca paterna de clássicos gregos e latinos, entre outros, à disposição na pequena Recanati.
Não custa lembrar, seguindo Rinah de Araújo Souto ao retomar a arqueologia do termo feita por Sainte-Beuve, que “classicus foi cunhado pelo escritor e gramático romano Aulo Gélio para designar um autor de primeira classe, o scriptor classicus, oposto ao scriptor proletarius”. Classici eram, pois, as pessoas oriundas de famílias ricas, situadas no topo da classificação social, enquanto que infraclassem eram os cidadãos de menor renda. Talvez se deva em parte a essa concepção elitista do termo, que vem desde o início e se perpetuou séculos afora, o distanciamento do clássico em relação ao leitor comum, o que, evidentemente não diminui o valor literário que foi sendo reafirmado no decorrer do tempo em relação às obras da antiguidade e mesmo às mais recentes.
Cada releitura de um clássico é uma nova descoberta, ou melhor, muda à luz de uma nova perspectiva histórica, como Borges mostrou no seu – até hoje clássico – Pierre Menard, autor do Quixote (1939). Por isso nunca deveriam ser lidos por obrigação, a não ser na escola, acrescenta surpreendentemente Calvino, que deve fazer o jovem conhecer bem ou mal um certo número de clássicos, como ponto de referência para suas leituras posteriores. É claro que Calvino está falando a partir de uma cultura com rica tradição de leitura literária como a europeia, em especial a italiana, mas na qual os jovens também resistem de antemão aos clássicos.
Talvez por isso o escritor tenha se dedicado a recontar com suas palavras e à sua maneira um clássico de sua especial predileção, Orlando furioso (1591), de Ludovico Ariosto, lição seguida por Alessandro Baricco ao lançar, em 2004, sua sugestiva versão em prosa da Ilíada, de Homero. É uma via de saída do círculo vicioso: jovens não leem os clássicos porque não dominam a linguagem e os temas tratados, não os dominam porque não têm o repertório disponível… dado pela leitura dos clássicos! Ou tentando resolver a equação posta pela humorística tirada de Mark Twain, para quem “clássico é algo que todos querem ter lido e ninguém quer ler”.
Na verdade, e o texto de Machado já referido o indica, a atemporalidade do clássico, ou melhor, sua permanência, está justamente na capacidade paradoxal de aderência histórica que apresenta e cabe ao leitor desvendar na sua atualidade, até mesmo em formas distintas da versão original, quando for o caso. O clássico pode ser entendido não apenas em termos horacianos – um livro que durou muito tempo – , mas em termos alegóricos, como um livro que suportará o peso de ter sido lido com um sentido adequado para a própria época de cada um de seus leitores, segundo J. M. Coetzee ao examinar o texto de T. S. Eliot sobre o assunto.
Nos dias atuais, a leitura de Iracema (1865), que se tornou uma sorte de besta-fera e tortura na escola, adquire uma grande vitalidade quando se destaca a violência da empresa colonizadora e a dominação e eliminação das culturas autóctones, o que o romance de Alencar alegoricamente delineia. Uma das questões mais atuais entre nós não é a questão indígena, a que o autor já procurava dar forma na sua época? Talvez mais do que a trama da “lenda do Ceará”, a linguagem exuberante – ultrapassada, diriam os detratores do escritor – seja a primeira barreira que o estudante encontra, mas ultrapassá-la pode ser um exercício de paciência e atenção, como qualquer atividade reflexiva exige. O que dizer então da babel de línguas que é Grande sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa, um clássico indiscutível da moderna literatura ocidental sempre fora da escola? Um clássico moderno só aparentemente é uma contradição de termos.
Quando Graciliano Ramos termina a primeira versão de S. Bernardo (1934), escreve à mulher Heloísa dizendo que o romance foi todo escrito em português, mas que o estava traduzindo para o brasileiro, “um brasileiro encrencado, muito diferente desse que aparece nos livros da gente da cidade, um brasileiro de matuto, com uma quantidade enorme de expressões inéditas, belezas que eu mesmo nem suspeitava que existissem”. O pai, Octávio, Chico e José Leite lhe “servem de dicionário” e a publicação do livro “servirá muito para a formação, ou antes para a fixação da língua nacional”, diz ele. E conclui com a pergunta que se tornará célebre: “Quem sabe se daqui a 300 anos eu não serei um clássico?”. Não foi preciso esperar tanto tempo.
O caso de Graciliano é exemplar porque a busca de uma “língua” mais próxima à do possível leitor da região onde se passa a história de Paulo Honório e Madalena é coerente com a formação escolar do escritor e com a sua repulsa inicial à literatura dos compêndios escolares. Sua ojeriza a Os lusíadas é notória, os versos em ordem inversa o atemorizam e irritam, bem como o volume do sisudo Barão de Macaúbas, que as crianças da época aterrorizadas tinham de enfrentar. Na escola em Viçosa (AL), para onde sua família se muda, quando se vê livre do barão barbudo, novo suplício se apresenta: uma seleta clássica. Com o passar do tempo, adquirido o domínio da linguagem escrita, as “cartonagens insossas” já não o satisfazem ou aterrorizam mais, o desejo de ler livros diferentes dos da escola aumenta. Lê emprestado primeiro justamente uma obra de Alencar, O guarani, a que vão se seguir Joaquim Manuel de Macedo, Júlio Verne, Ponson du Terrail e, mais tarde, Cervantes, Defoe e Swift, entre outros.
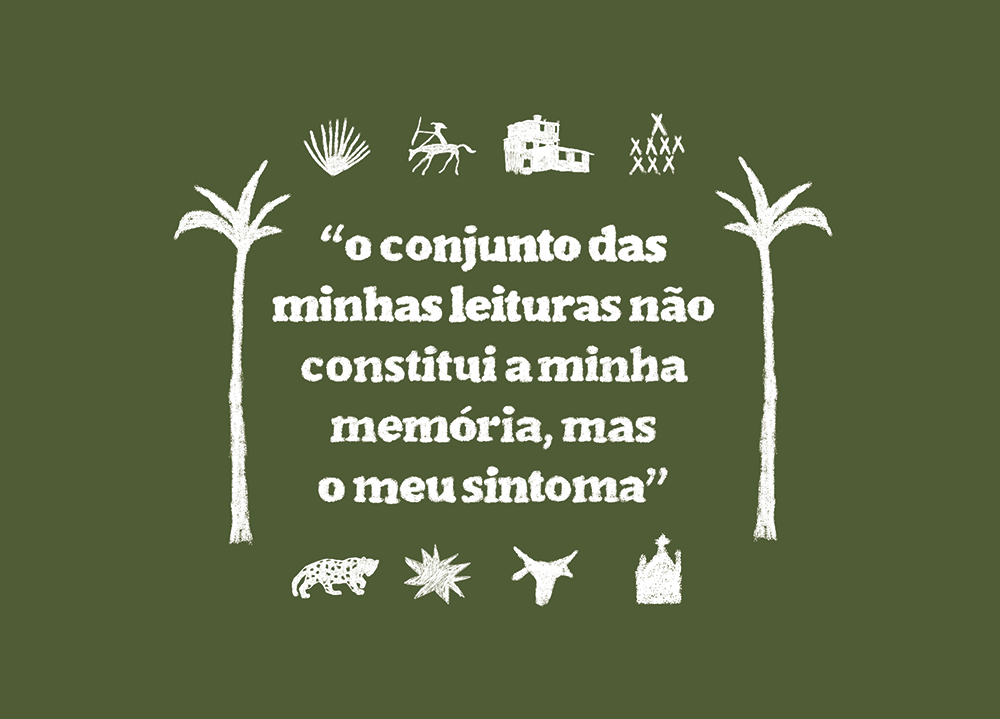
A leitura contemporânea de um clássico depende muito da perspectiva adotada por quem lê ou ensina a ler. Uma abordagem não canônica de um texto canônico pode levantar questões antes invisíveis como, por exemplo, as leituras recentes que apontam em Monteiro Lobato, nosso clássico da literatura infantojuvenil, um viés racista indefensável mesmo por seus admiradores mais aguerridos. O que fazer então? Apagar as marcas racistas em seus textos, como se cogitou? Ou lê-las como parte de um todo contraditório, representante complexo da sociedade de que o sítio do Pica-Pau Amarelo faz parte e que tem em Tia Nastácia, vítima principal do racismo, o índice mais nítido do escravagismo pátrio ainda atuante entre nós sob novas formas? Vale a pena deixar de ler Os lusíadas, tão importante para o mundo lusófono, mesmo apesar das construções enviesadas, por ser um elogio da empresa colonial portuguesa?
O advento dos estudos culturais, feministas, queer e pós-coloniais, passado o período inicial do embate com os estudos literários, trouxe outras maneiras de se ler um clássico, mesmo se às vezes forçando a mão naquilo que foge, enfim, a toda redução significante. Sem dúvida, um livro assombroso como A menina morta (1954), de Cornélio Penna – que tem lugar de destaque na minha biblioteca de clássicos –, a par de suas qualidades de composição literária e refinada linguagem, ou por isso mesmo, é a mais contundente tradução em termos artísticos do patriarcalismo brasileiro e sua origem escravocrata, revelando para o leitor os meandros labirínticos de sua “escondida presença”, para usar um oxímoro caro ao escritor – homem, branco, egresso da classe dominante, mas hábil o suficiente para impedir que esses traços identitários comprometam seu ângulo de visão subversor.
Assim é que não se requer de um Gregório de Matos, por exemplo, um anacrônico libelo contra a escravidão, mas seu ponto de vista sobre as mazelas da sociedade colonial, em versos de notável qualidade literária, permanece, infelizmente, bastante atual se considerado a partir da situação presente. Não permitir o acesso dos mais jovens aos poemas do Boca do Inferno seria um indesculpável erro pedagógico que não vale a pena correr, acredito. Por outro lado, obrigar o jovem leitor e o leitor não especializado a identificar características de um autor pelas das escolas literárias a que porventura pertença – Arcadismo, Romantismo, Realismo etc. – é um desserviço prestado à literatura e nada acrescenta ao contato direto do texto e seus desdobramentos significantes.
Por sua vez, abrir mão na leitura dos lugares de fala que os textos indiciam ou afirmam é um retrocesso incoerente com a amplitude do conhecimento literário, feito do contraponto de valores díspares e de embates insanáveis de significação. No livro Em liberdade (1981), de Silviano Santiago, uma leitura ficcional da obra de Graciliano Ramos e já um clássico da literatura entre nós, o narrador postula a leitura como conflito e ao fazê-lo enuncia sua razão de ser: “A verdadeira leitura é uma luta de subjetividades que afirmam e não abrem mão do que afirmam, sem as cores da intransigência. O conflito romanesco é, em forma de intriga, uma cópia do conflito da leitura. Ficção só existe, quando há conflito, quando forças diferentes digladiam-se no interior do livro e no processo de sua circulação pela sociedade”. Exemplo de leitura não canônica de um clássico da literatura brasileira, o livro de Santiago – de Graciliano? – faz valer no presente a demanda de significação do precursor, que se mostra então pleno de atualidade.
***
A leitura de um clássico mais próximo ou mais distante no tempo não importa muito se for entendida como um trabalho de perlaboração, na qual traços mnésicos posteriores atuam no objeto da lembrança, repetindo-o em diferença, como o Menard, de Borges demonstra exaustivamente. Ou, então, à maneira de Aby Warburg, que chamou a atenção para a sobrevivência das imagens e das formas como uma presença fantasmal, no sentido de que imagens e formas desaparecem num momento da história para reaparecer mais tarde, numa outra época, sem que fossem esperadas. Ler um clássico é, nessa perspectiva, dar sobrevida histórica a seus múltiplos significados, abertos ao inesperado e ao surpreendente: “um efeito de ressonância que vale tanto para uma obra antiga quanto para uma moderna”, considerando que a leitura de um clássico “deve nos causar alguma surpresa em relação à imagem que tínhamos dele”, nas palavras de Calvino.
Ler um clássico é, pois, comparar, “situar-se num ponto para olhar à frente e para trás”, ainda segundo Calvino, reafirmando o sentido relacional e relativo de toda leitura, a rigor interminável e sempre incompleta. Pode-se dizer, então, que um clássico libera o leitor de sua circunstância temporal pela manobra de fazê-lo interromper paradoxalmente o fluxo do tempo para melhor inseri-lo em toda sua extensão como forma de (auto)escuta, comprovando que em perspectiva histórica descentrada – e não evolutiva e cumulativa, como para Eliot – a potencialidade de um clássico se atualiza de maneira mais porosa, isto é, mais apta a absorver seus traços diferenciais em relação à cultura na qual é recebido, quando se trata, por exemplo, de uma tradução. Como um livro tão “hispano-americano” como Cem anos de solidão (1968), de Gabriel García Márquez, é lido pela cultura árabe ou eslava, para citar apenas aquele de maior sucesso do chamado Boom dos anos 1960 e 1970?
Nesse sentido, a leitura escolar de um clássico não pode desconhecer a virtualidade que nele está contida enquanto prospecção cultural de passado e futuro no presente da leitura, para que se evite o simplismo do “mais alto elogio ou mais desdenhoso abuso”, nas palavras de Eliot, embora se deva levar em conta que o leitor na maturidade é mais detalhista, mais capaz de fazer comparações, enquanto o leitor jovem é mais impaciente, distraído, mais uma vez segundo Calvino, o que não é de todo mal. São, ambas, formas de leitura possíveis e suplementares. Pode-se, assim, colocar a questão mais difícil, segundo Coetzee: “Quais, se os há, são os limites para esta relativização histórica do clássico? O que, se é que, sobra do clássico após sua historicização que possa ainda querer falar através dos tempos?”
Pensada num contexto pós-colonial, a noção de clássico perde de vez sua concepção eurocêntrica e assume diferentes modalidades de significação em relação aos critérios de avaliação dos centros hegemônicos do poder literário. Pode ser um meio de afirmação nacional das jovens nações emergentes, como foram os romances de fundação da América Latina no século XIX, segundo os estudos de Doris Sommer, ou a afirmação na cena literária de um segmento social antes dela excluído, e, nesse caso, pode-se dizer que Quarto de despejo (1960), de Carolina Maria de Jesus, é um clássico da moderna literatura brasileira, escrito a um só tempo por uma mulher, uma favelada, uma afrodescendente. Para um aluno de classe média dos grandes centros urbanos do país, o universo da escritora talvez seja tão distante quanto o universo da Eneida (século I a.C.), de Virgílio – tomar contato com eles é antes de tudo um exercício da diferença, sem o qual nenhuma leitura ou aprendizagem é para valer, ciente de que o entendimento histórico muitas vezes “é o entendimento do passado como uma força modeladora sobre o presente” (Coetzee).
Um conhecido conto de Borges, Funes, o memorioso (1944) – outro clássico do autor –, nos dá pistas de leitura nos subúrbios do mundo. Em Fray Bentos, no Uruguai, o narrador argentino de férias se encontra com o personagem do título, cuja capacidade de tudo registrar, sem se esquecer de nada, é espantosa. Do Gradus ad Parnassum à Naturalis Historia – “livros anômalos” para o lugar – grava até vírgulas e pontos, como faz com o desenho de cada uma das folhas das árvores que vê pela janela. Sua memória monstruosa é negação dela mesma: sem esquecer não é possível lembrar ou, então, não é possível ler; o acúmulo de dados impede a recordação e a leitura. Ou como quer Antoine Compagnon, “o conjunto das minhas leituras não constitui a minha memória, mas o meu sintoma”, que se revela não nos livros que marquei ou sublinhei e, sim, nos que me marcaram sem que eu me desse conta: ler, então, é deixar-se levar distraidamente – com a máxima atenção possível.
Toda leitura literária de um clássico supõe o confronto com vazios de significação que podem mudar de acordo com a época em que é lido e que são, afinal, mobilizadores de significação não totalizadora. É comum dizer de um clássico que ele é um monumento de tal ou qual língua e, portanto, merecedor de respeito e adoração – “ocasião de brindes patrióticos, de soberba gramatical, de obscenas edições de luxo”, nas palavras de Borges. Nada mais equivocado, ainda segundo o escritor, pois “a glória é uma forma de incompreensão e talvez a pior”.
Da perspectiva do subúrbio do mundo, a assimilação totalizadora dos clássicos metropolitanos por quem escreve e quem lê é uma atividade anômala na sua monumentalidade “funesta”, em última instância contraditória em relação à vida de todo clássico. Estar à margem, no entanto, abre caminho para outra modalidade de leitura – antropofágica, diria Oswald de Andrade – ao mesmo tempo subversora e afirmativa a um só tempo de um texto primeiro, colocando a nu a relação assimétrica do poder e do conhecimento: Graciliano Ramos, em Caetés (1933), devora o Eça de Queirós de O primo Basílio (1878), que devora o Gustave Flaubert de Madame Bovary (1856).
Tem-se a formação de uma série ou “família literária”, como prefere Ricardo Piglia, e como em toda família há simpatias e discussões entre seus membros, o que não invalida a legitimidade das ideias em conflito. A forma combativa de intervenção no cânone a partir do deslocamento de seus pressupostos, tornados objeto de cerrada investigação e invenção, acentua ainda mais a mobilidade do clássico, reafirmando sua pertinência no tempo da leitura.
É curioso a respeito dessa mobilidade o capítulo inicial de Palomar (1983), de Italo Calvino, intitulado “Leitura de uma onda”, na qual o personagem se vê às voltas com sua obsessão de medir onde começam e acabam as ondas no mar. Cada vez mais angustiado diante do movimento incessante delas e a dificuldade para medi-las, termina desolado, sem chegar a um resultado definitivo. Desiste então da leitura-medição, com os nervos em frangalhos e “ainda mais inseguro de tudo”, vendo realizar-se à sua revelia o objetivo de toda leitura literária, que para o autor, conforme diz em outro de seus livros, é o de “despertar um fundo de angústia insepulto” diante da banalidade dos best sellers.
Retomando e colocando a noção de “valor em si” em xeque: clássico é não apenas o autor modelo de determinada língua ou cultura, mas aquele que ao demandar no curso do tempo uma operação tradutora, no sentido benjaminiano da expressão, torna-se fonte de legitimação recíproca entre original e tradução, fonte de constante inovação intra e intercultural, sem hierarquizações e reducionismos de qualquer ordem. Fomentar esse intercurso e fazê-lo interagir com o presente deveria ser a tarefa do ensino dos clássicos na escola, tendo sempre em mente o alerta de Borges, para quem clássico não é aquele livro “que necessariamente possui estes ou aqueles méritos; é um livro que as gerações dos homens, urgidas por razões diversas, leem com prévio fervor e com uma misteriosa lealdade”.
O contato supõe, portanto, uma empatia entre obra e leitor, construída ao longo do tempo de vida de ambos, como uma promessa de felicidade para os que o leem e para os que vêm depois, sendo que uma das provas a mais de vitalidade do clássico seja a discussão constante de suas velhas e novas qualidades por parte da crítica. Tudo isso, mas sem deixar de considerar a questão a partir da definição de literatura dada por Ricardo Piglia, estendendo-a aos clássicos: “um manual de sobrevivência em tempos difíceis”, principalmente para o (jovem) leitor do país colonizado, “lutando para combinar a cultura herdada com as experiências diárias”, nas palavras de Coetzee.
Mas voltemos a Machado de Assis. Em O alienista, texto de abertura de Papeis avulsos (1882), conta-se a história da Casa Verde, manicômio fundado em Itaguaí pelo médico Simão Bacamarte – a natureza bélica e pejorativa do sobrenome já diz quase tudo – com o objetivo de nele recolher os loucos da cidade. Pouco a pouco, baseado no pretenso conhecimento científico do seu fundador, estudioso dedicado do assunto e observador diligente, a instituição vai se enchendo com as pessoas do lugar: qualquer mínimo sinal diferente de comportamento de seus habitantes é sintomático para Bacamarte e leva à internação imediata na Casa Verde. Com o passar do tempo, não muito tempo, todos os moradores da cidade são recolhidos ao asilo, restando fora dele apenas o eminente cientista que num ato súbito de sanidade – ou demência – liberta todos os demais e se torna o único interno do hospício: “Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo”. Morre dali a “dezessete meses no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada”.
É evidente que esse breve resumo não dá conta da força literária alucinada de O alienista, nem do detalhismo miniaturista com o qual a trama é obsessivamente composta. Além da crítica ao positivismo cientificista da época – e não à ciência, que fique bem claro –, o texto faz ver os limites tênues entre sanidade e loucura e os transforma em desabrida metáfora da condição humana e da sociedade do seu tempo. Lidos por olhos novos, esse clássico da ironia e do humor machadianos parece ter sido escrito aqui e agora – as semelhanças são e não são mera coincidência. Franjas de seda e de algodão, poderia repetir o narrador de A igreja do Diabo.
Que nosso jovem leitor de clássicos saiba puxá-las e fazer delas seu suprimento de leituras e impulso para melhor compreensão dos destroços do presente.