
I
O tema deste ensaio é fruto de um encontro que certamente muitos já viveram. Em 1995, ainda estudante de graduação de História no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ (mais conhecido como IFCS), parte da minha rotina era percorrer sistematicamente os sebo4s de livros ao redor do Largo do São Francisco. Naquela época, ainda era uma região privilegiada de estabelecimentos que iam da Rua da Carioca à Praça Tiradentes, das esquinas do Saara ao subsolo do edifício da Avenida Central.
Nos sebos, fiz boa parte da minha formação intelectual através do método da curiosidade aleatória, catando sem critérios objetivos títulos, capas e assuntos nas prateleiras de livros baratíssimos, chamadas genericamente de “Problemas Brasileiros”. Numa dessas incursões, vejo uma lombada branca e rosa com um título impactante: Tradição e transformação no Brasil. O autor, Pessoa de Morais, era desconhecido para mim. O ano da edição, 1968, causava impacto em meus ouvidos. A Editora Civilização Brasileira dava o selo de qualidade necessário para conferir seu sumário – os sumários eram, alias, uma etapa fundamental no método da curiosidade aleatória. Li então o subtítulo em sua folha de rosto – “análise sociológica, antropológica e psicanalítica” – e os cinco capítulos (dois deles divididos em parte 1 e parte 2) intitulados da seguinte forma: “Frevo, samba, erotismo e tendências íntimas do Brasil”; “O futebol e a psicologia brasileira”; “Jazz, sexo, angústia e burguesia”; “Transformação social, tradição, juventude e bossa nova”; e “Política, magia, messianismo, mito e contradições brasileiras”.
Tais títulos me atraíram na hora. Na perspectiva dos 20 anos que tinha na época, suas palavras formavam um painel nunca antes costurado por um pensador no Brasil. Sexo, jazz, futebol, bossa nova, samba, messianismo, eram temas encontrados apenas de forma estanque e esparsa em trabalhos espalhados por vastas bibliografias. Era como se tivéssemos Gilberto Freyre, Mário Filho, Lúcio Rangel, Orestes Barbosa e Paulo Prado escrevendo juntos um mesmo livro. Na época, estava fazendo pesquisas de iniciação científica sobre as relações entre história, política e música popular. Minha monografia de fim de graduação em 1999 era dedicada à canção de protesto, poder e juventude no Brasil, nos anos 1960. Adotara como método experimental de escrita a utilização de fontes e ideias teóricas produzidas no país exclusivamente entre 1958 e 1968. Por conta disso, acabei utilizando pela primeira vez os textos de Pessoa de Morais – principalmente os capítulos dedicados ao jazz e à bossa nova. As citações que fiz de seu trabalho, porém, não apresentavam apreciações críticas da obra ou de seu autor.
Após o fim do curso, o livro ficou guardado na biblioteca. Quando encontrava outro volume nos sebos, porém, comprava imediatamente (sempre por menos de 10 reais) e dava para amigos. Eu mesmo tenho dois. Apesar disso, creio que nenhum deles se interessou pela minha fala irresponsável sobre um autor obscuro e, talvez, revolucionário.
Dez anos depois – e prometo que essa será a última autorreferência neste texto –, por conta de uma mudança de endereço, tive que desempacotar minha biblioteca. Em meio ao caos de arrumar um novo espaço para os livros, momento em que, seguindo o colecionador em deambulação Walter Benjamin, ainda “não os envolve o tédio silencioso da ordem”, fiz uma nova leitura despreocupada dos ensaios de Pessoa de Morais. Na época, escrevia em um blog pessoal e publiquei um pequeno texto sobre o tema (partes dele, aliás, atravessam essas linhas). Desde lá, continuei admirando por motivos estritamente pessoais o livro, sem nenhuma dedicação crítica a ele. Com o convite que recebi meses atrás para um seminário sobre ensaístas brasileiros, achei que poderia ser uma oportunidade apresentar alguns apontamentos a respeito dessa obra, cujas marcas originais são, simultaneamente, a reelaboração de uma tradição ensaística brasileira – devoradora de repertórios díspares a qualquer custo – e a matriz literária de sua escrita. Como veremos, porém, justamente por tais atributos a leitura do autor no presente não o torna contemporâneo.
II
Pessoa de Morais é, ainda, um personagem difícil de ser localizado em uma tradição intelectual brasileira. Não pela sua necessária existência em algum cânone dos grandes ensaístas nacionais (aliás, este texto não reivindica nenhum reconhecimento ou restituição de qualquer espécie sobre sua obra), mas pela completa obscuridade que até mesmo uma simples pesquisa na web hoje em dia apresenta. Não há Wikipédia nem páginas familiares e existem pouquíssimas referências acadêmicas. Sabemos que ele foi professor catedrático da Universidade Federal de Pernambuco nos anos de 1960 e 1970. Que publicou ao menos quatro livros – Sociologia da revolução brasileira – Análise e interpretação do Brasil de hoje, de 1965; o referido Tradição e transformação no Brasil, em 1968; O desafio da era tecnológica, em 1971; e Comunicação, tecnologia e destino humano, de 1972. Mesmo assim, buscas mais profundas sobre sua obra e biografia são infrutíferas (é possível encontrarmos os títulos aqui citados sendo vendidos com preços baixos nos sites de livros usados).
Na era das interações sociais através de caixas de comentários, foi a partir do breve texto que escrevi para meu blog em 2009 que obtive informações mais concretas sobre quem foi o autor de Tradição e transformação: sua filha, Selenita Alencar Pessoa de Moraes, me enviou uma mensagem agradecendo o texto publicado e me informando que ele falecera em 9 de setembro de 2000. Outras pessoas fizeram referência a ele como professor. Cito: “Em meados dos anos 1970 fui aluno desse notável gênio/professor, quando eu iniciava o curso de Economia pela UFPE. Era um catedrático com rara capacidade de aliar o técnico a um profundo senso humanístico em suas aulas que nos mantinham em profundo estado de interesse e suspense”. Aqui, um comentário de quem o viu como palestrante – “Vi uma palestra de Pessoa de Morais em Campina Grande, onde eu morava no começo dos anos 1970. (...) Era uma cachoeira de ideias, falava aos borbotões, fazia associação de ideias inesperadas que nos exigiam, de minuto a minuto, conexões novas”. Outro leitor do texto, por fim, acrescentou que “na época do lançamento o livro, recebeu uma resenha de Jayme Griz, um folclorista pernambucano tanto ou mais obscuro do que Pessoa de Morais”.
Essa sequência de comentários aleatórios serve apenas para demonstrar o grau de opacidade que a obra de Pessoa de Morais apresenta quando tentamos nos aproximar dela para além de seus livros. Fora essas memórias pessoais de ex-alunos e familiares, não há praticamente registros de seu pensamento ressoando em outros autores de gerações futuras. Quando achamos, são mínimas. Aqui, podemos arriscar tanto uma falta de força crítica para tal obra permanecer ressoando no contemporâneo, quanto outros fatores mais hipotéticos. Afinal, era um ensaio que, em 1968, via saídas auspiciosas no futuro – mesmo com o quadro social conflagrado pela escalada de violência do regime civil-militar no Brasil.
E que livro é esse? Sem maiores informações sobre seu autor, podemos arriscar exercícios especulativos a partir de suas ideias. Um deles é situar Tradição e transformação no Brasil como representante legítimo de uma linhagem marcante de ensaístas forjados no âmbito do que chamarei aqui apressada e estrategicamente de “forma pernambucana” [nota 1]. Em um exercício de genealogia (como todas, inventada), é possível dizer que essa forma situa seus pilares nos nomes ligados à Escola de Direito de Recife (como os sergipanos Tobias Barreto e Sílvio Romero) e estrutura seu edifício na obra definitiva, contraditória e infinita de Gilberto Freyre. Vale aqui lembrar que, em 1968, Joaquim Inojosa publica O movimento modernista em Pernambuco, volume em que debate as especificidades do modernismo local (reivindicando seu papel de pioneiro do movimento no Nordeste) e alega que Freyre, principal nome de correntes antipáticas à Semana de 1922, nunca havia publicado o chamado Manifesto regionalista em 1926. Polêmicas locais à parte, naquele ano de Tradição e transformação, o debate sobre o pensamento pernambucano estava em plena ebulição.
E o que poderia ser essa “forma pernambucana”? Apesar de ter traços genéricos de qualquer ensaio, ela apresenta a permanência de alguns elementos que as décadas foram atenuando em prol de maior especialização e rigor teórico: o gosto pela diversidade de temas brasileiros em interdisciplinaridade constante; a recusa de abraçar uma escola específica de formação intelectual em prol do cruzamento amador de áreas, fontes e métodos de análise; a tênue fronteira entre um fundo cientificista das hipóteses (a raça, o clima, a cultura, a biologia, a psicologia) e uma argumentação de retórica fabuladora e experimental; e a oscilação constante entre a análise e a interpretação.
Tais traços libertários e inovadores, presente em obras como Casa-grande e senzala (1933), fizeram com que o ensaio, por consagração e necessidade, fosse o gênero natural desses intelectuais que floresceram em Pernambuco na primeira metade do século XX. Afinal, se há um meio de ação crítica no país que dinamizou o pensamento hegemônico dos grandes centros europeus em aclimatações tropicais, sem dúvida esse meio foi o ensaio oitocentista e suas consequências nos escritores e pensadores do século XX. O que chamo aqui em uma visada histórica sobre a obra de Pessoa de Morais de “forma pernambucana”, portanto, são escritos que juntam expressionismo exacerbado, determinismo, amadorismo experimental e ambição.
III
O sergipano Sílvio Romero (1851-1914) definiu o ano de 1868 como o início de um decênio fundamental da vida intelectual no Brasil. Glosando o nome de uma famosa tela de Cícero Dias, sugere que ele “viu o mundo e ele começava em Recife”. É o ano em que desembarca na cidade para seus estudos em Direito e descobre os ensaios (esse era o termo usado ao lado de outro, corrente na época – os “estudos”) de seu mestre, também sergipano, Tobias Barreto (1839-1889). Romero e Barreto foram dois ensaístas e polemistas (funções intelectuais que se confundiam) consagrados em seu tempo, cujas obras, se não permanecem como referências atuais, foram de extrema importância para as gerações que logo os sucediam – assim como de outros contemporâneos da mesma faculdade, como o baiano Castro Alves (1847-1871)– opositor das ideias de Tobias Barreto – e o cearense Araripe Júnior (1848-1911).
O famoso ímpeto bélico de Romero na retórica de seus ensaios (e aqui recomendo o estudo primoroso de Roberto Ventura, Estilo tropical, como referência) referendou muitas vezes Tobias Barreto como o fundador de um novo pensamento no Brasil, superando as tradições acadêmicas do Direito divino e do Direito natural, em prol da inédita leitura do pensamento alemão na língua original e de novas abordagens que o mesmo propiciou. Críticos associam esse corte geracional de Romero a uma forma de valorizar em demasia os escritos de Barreto. Vale destacar que Sílvio Romero será um dos precursores dessa amplitude de temas pesquisados, como propuseram posteriormente Freyre e Pessoa de Morais. Literatura, história, etnografia, folclore, linguística, filosofia, política, direito, musicologia e sociologia foram campos de saber que o crítico transitou em uma produção incessante de ensaios. Mesmo vinculado ao quadro intelectual do período e seus determinismos em leis biológicas e naturais, abriu um leque investigativo que, de alguma forma, chega até o livro de Pessoa de Morais. O que busco aqui, ao escrever sobre um livro sem grande expressão, portanto, não é valorizar seu autor, mas, sim, situar as condições de possibilidade de sua abordagem original em 1968. De Romero a Morais, uma linha de força especulativa dos trópicos se firmou a despeito de outras vertentes hegemônicas do ensaio brasileiro no século XX.
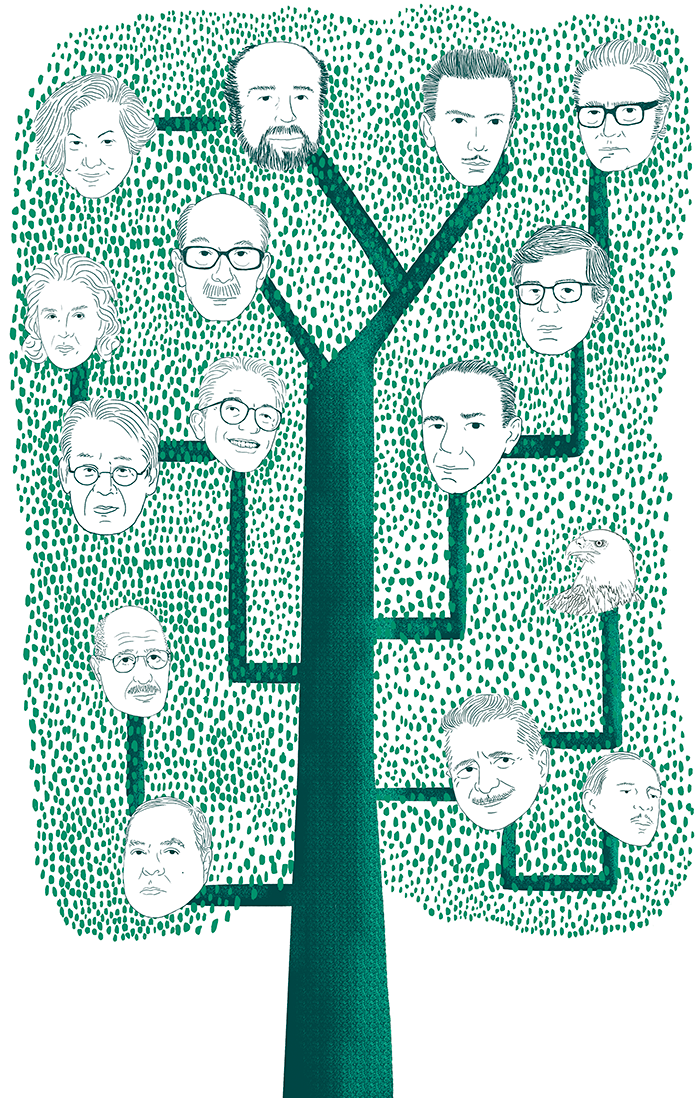
O corte modernista de 1922 – mas, principalmente, de 1928 – fez do ensaio brasileiro um espaço mais exigente e especializado diante da demanda intelectual de um nascente ambiente acadêmico-universitário. Ao mesmo tempo, cristalizou o gênero como manifestação textual hegemônica quando se pensava sobre o Brasil. Em um país com pouquíssima representação acadêmica até então, a liberdade entre a precariedade científica e a “autonomia literária” dos escritores promoveu o ensaio em seu “entusiasmo com o que os outros já fizeram”, como diria Adorno. Entre Tobias Barreto e Pessoa de Morais, fulgura a geração de Gilberto Freyre (1900-1987), Mário de Andrade (1893-1945) e Sérgio Buarque de Hollanda (1902-1982), cuja valorização das ciências sociais (antropologia, sociologia, história e crítica literária em primeiro plano) deu mais peso à análise do que à livre interpretação.
Podemos arriscar dizer, portanto, que se instala nessas gerações uma diferença entre uma perspectiva paulista, centralizada aos poucos na USP, nos representantes do grupo da revista Clima e na escola sociológica de fundo marxista (que desembocaria em ensaístas como Roberto Schwarz e Walnice Nogueira Galvão), e uma perspectiva pernambucana de matriz freyriana, em que a transversalidade indiscriminada das abordagens e assuntos impedia essa especialização. Se na famosa revista de Antonio Candido (1918-2017), Gilda de Mello e Souza (1919-2005), Décio de Almeida Prado (1917-2000), Lourival Gomes Machado (1917-1967) e Paulo Emílio Salles Gomes (1916-1977), cada qual se dedicava a um recorte crítico do campo da cultura, nos autores que tinham na obra de Freyre uma referência, o debate sobre o Brasil era mais eclético, permitindo que o jogo e a felicidade de Casa-grande e senzala – entre aparatos teóricos internacionais e documentações vinculadas à tradições locais, oralidades e eventos do cotidiano privado – pudessem conviver sem problemas.
Em seu famoso ensaio Literatura e cultura – 1900 a 1945, Antonio Candido usa o termo “livre fantasia” para se referir ao papel do negro, do índio e do colonizador na obra freyriana. O crítico indica o corte qualitativo e normativo que o gênero sofreria sob sua pena e de seus pares. Vale lembrar que Candido sempre situou Sílvio Romero como uma referência fundamental na sua formação (foi tema da tese O método crítico de Silvio Romero, publicada em 1945), indicando-o como um dos semeadores fundamentais desse “terreno predileto e sincrético do ensaio não especializado de assunto histórico-social”.
Apesar de estar aqui sugerindo uma diferença de perspectivas no bojo do ensaísmo brasileiro, não há dúvida de que Pessoa de Morais e seu livro se situam no mesmo espaço da ampla maioria dos ensaios feitos no país entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Muitos partem de um ímpeto de autoanálise dos problemas brasileiros, pensando a história colonial através de uma ação crítica que buscava “redefinir a nossa cultura à luz de uma avaliação nova de seus fatores” (para citar Candido mais uma vez). Se Adorno nos diz que o ensaio “não começa com Adão e Eva, mas com aquilo que se deseja falar”, o desejo dos ensaístas brasileiros sempre mirou a ferida fundadora do colonialismo, nossa formação multiétnica, nossa condição subdesenvolvida e, se possível, a superação da mesma. Essa capacidade experimental de arriscar diagnósticos parciais e atravessamentos delirantes de temporalidades em ensaios de todos os tipos e matrizes políticas, foi uma prática que abriu veredas inovadoras de pensamento, na mesma medida em que tornou datados os seus excessos. Os nomes maiores, menores e obscuros de autores que se dedicaram a tal gênero no país são intermináveis. Principalmente aqueles que elegeram o Brasil como assunto e personagem.
A filiação às diferentes abordagens intelectuais de seus tempos (portuguesas, francesas, inglesas, alemães, norte-americanas) não desviaram os ensaístas locais da busca empenhada de genealogias nacionais. Foi através deles que vivemos “o lento, sofrido e gradativo processo de interiorização de um saber que lhes é exterior” (Silviano Santiago). Autores e autoras que escavaram passados tropicais em consonância com a aplicação, muitas vezes de forma epidérmica, das principais teorias e ideias internacionais contemporâneas. E entre eles, temos o trabalho solitário de Pessoa de Morais.
IV
Na apresentação de Pessoa de Morais em Tradição e transformação no Brasil, lemos que seus ensaios, escritos solitariamente na “paz bucólica do Nordeste” eram “um conjunto permitindo um esboço do nosso caráter, não como entidade estática, mas como elemento dinâmico em constante transformação. Por isso, neste livro, estudando temas atuais, melhor diríamos atualíssimos, descemos quase sempre, às raízes mais recônditas de nossa cultura, para examinarmos, em profundidade, os condicionamentos mais internos do nosso inconsciente coletivo”. (p. 5)
A ênfase de vocabulário em uma dimensão genealógica – descer às raízes recônditas – e a demanda por profundidade, são acompanhadas de uma dimensão investigativa do que é velado, interno, inconsciente. Ela pode ser resumida naquilo que o autor chama de “mergulho vertical” na realidade. Essa ambição vertical do pesquisador se baseia em “intensidades”, algo similar a ideia contemporânea de “acontecimento” como um conceito que rasura o fardo diacrônico, horizontal e extensivo da História. Apesar de propor um livro que se esparrama em ampla temporalidade – “levantamento de traços vigorosos da vida íntima do nosso século” – Morais realiza seus ensaios na verticalidade vertiginosa que conecta fontes de viajantes europeus do século XVI com a formação da burguesia industrial no Brasil na era da bossa nova. De alguma forma, ecoa o que Freyre batizara em seu trabalho de “sociologia genética, sobre base brasileira”.
O arranjo de referências bibliográficas do autor é mais um dos exemplos dessa tendência de apropriação não especializada de diferentes áreas de conhecimento em prol de sua investigação – ou melhor, do seu desejo de narração sobre o Brasil. Para Pessoa de Morais, seu livro era fruto de uma combinação nova de métodos de interpretação em um texto que “apela mais para a sugestão do que para a simples definição”. Por tratar do “comportamento íntimo do brasileiro”, há referências cruzadas de diversos autores ligados às diferentes áreas da psicanálise, tratados médicos, historiadores de diferentes épocas, sociologia, folclore, biologia e economia. Mesmo que utilizasse autores como Sartre e Mauss, Durkheim e Freud, a “cor local” de sua análise não eliminaria um tom cientificista e determinista ao se referir à presença dos povos escravizados na formação cultural de Recife e do país, oscilando entre leituras naturalistas (a ênfase ao corpo e seus atributos elásticos, livres e eróticos) e abordagens pouco usadas até então de autores como Theodore-Armand Ribot e sua “lógica dos sentimentos”, e Lévy-Bruhl com sua “mentalidade primitiva”. Mantinha de forma estreita a perspectiva racial a partir de autores de 1905 e 1921 em capítulos sobre frevo, futebol e jazz. O interesse contemporâneo do autor sobre temas ligados às novas gerações não o afastava da perspectiva freyriana de entender o brasileiro pela marca singular de suas populações em suas diferenças étnicas e culturais, assim como em seu erotismo. Ele os mantinha como traços importantes dessa intimidade formativa da população – relacionados tanto aos negros urbanos brasileiros, quanto aos brancos da burguesia norteamericana.
Mesmo no capítulo dedicado à juventude e à bossa nova no Brasil, em que Pessoa de Morais aponta o ensaísta que se consolidaria nos livros seguintes sobre tecnologia e cultura de massa, ele não se afasta dessa verticalidade de temas ao sugerir a nostalgia indígena como origem do sentimento contido de João Gilberto em suas canções. Ao investigar o tempo presente em que escrevia e o “processo urbano-burguês” que se desenvolvia no país, continuava definindo os fenômenos culturais brasileiros por genealogias deterministas. Já no capítulo sobre política e messianismo, é o imaginário místico ibérico que fundamenta as frustrações dos projetos nacionais de emancipação e transformação social em seu tempo presente.
V
Pessoa de Morais não é necessariamente um ensaísta que precisa ser lido e descoberto pelas novas gerações. Suas conexões inusitadas de temas e autores, às vezes, surpreendem pela originalidade, porém logo a seguir são esvaziadas por determinismos datados que o autor cultiva com rigorosa imprecisão científica. Entre a ambição cósmica de dar conta do caráter do brasileiro e dos fundamentos da formação do Brasil e o quadro intelectual que movimenta para justificar tal processo, ele sabe que o ensaio é o único gênero possível para tal procedimento. Apesar dos problemas que surgem de uma leitura contemporânea, seu livro é uma espécie de indício importante da diversidade de ensaístas que fizeram do Brasil o motor de uma escrita experimental e livre, retratos parciais de um desejo de explicar o país em seus impasses históricos.
Na sua apresentação, o ensaísta pernambucano nos diz que, com seu livro, finalmente começaríamos uma “linguagem brasileira”, isto é, uma linguagem “amplamente afirmativa”. E se, como afirma o crítico português João Barrento, a escrita do ensaio “é desenho de cintilações do impreciso” que “nasce da névoa da empiria para ganhar corpo vivo”, Pessoa de Morais e seu livro, esse “estranho e exótico passeio”, corporificam tal desejo de fazer da história de um povo inventado (a tradição), material mutável e efêmero da vida (transformação). Se existem limites qualitativos para tais desejos escritos, somente o ensaio enquanto campo experimental do pensamento pode permitir que eles sejam transpostos e se tornem parte desse imenso acervo de ideias desconhecidas e à deriva chamado Brasil.
NOTA
[nota 1]. Com esse termo, não estou tentando, em absoluto, criar uma essência ou “natureza” do ensaísmo feito em Pernambuco a partir do século XIX. A ideia é sugerir um traço local (um “tom”) construído em meio às relações políticas, diálogos teóricos e interações sociais ocorridas no campo intelectual do estado e o impacto de suas obras dentre outras gerações.
REFERÊNCIAS
ADORNO, Theodor. “Ensaio como forma”, in: Notas de Literatura I. São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2003
BARRENTO, João. O gênero intranquilo. Lisboa: Assírio e Alvim, 2010.
CANDIDO, Antonio. “Literatura e Cultura – 1900 a 1945”, in: Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2010.
FREYRE, Gilberto. Encontros (orgs. Bernardo Ricupero e Sergio Cohn). Rio de Janeiro Azougue Editorial, 2010
MORAIS, Pessoa de. Tradição e transformação no Brasil – análise sociológica, antropológica e psicanalítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
PEDROSA, Célia (org.). Antonio Candido – a palavra empenhada. São Paulo: Edusp 1994.
SANTIAGO, Silviano. “Formação e inserção”. O Estado de S.Paulo, 26 de maio de 2012.
VENTURA, Roberto. Estilo tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.