
O acontecimento literário talvez seja mais acontecimento (porque é menos natural) do que qualquer outro, mas, por isso mesmo, torna-se muito “improvável” e difícil de verificar (...) Não há nenhuma essência ou existência garantida da literatura.
Jacques Derrida
Pensar o espaço da crítica literária hoje em dia requer uma perspectiva de leitura que possa se valer de um esforço de desinstrução do eu, diria André Gide, ou de esquecimento, como queria Roland Barthes, para que se possa dar conta do campo expandido (a expressão é de Rosalind Krauss) da literatura considerada como performance (artes cênicas) ou instalação (artes visuais) – de um inespecífico, em suma, que faz imaginar a existência de um óvni muito especial, um “objeto verbal não identificado”, do qual falam Christophe Hanna e Flora Süssekind. A partir disso, gostaria de tomar uma via oblíqua, que atravessa esses territórios discursivos, para que se possa pensar uma alternativa para a discussão sobre a chamada crítica acadêmica ou universitária, diante de sua força (teórica) e seu enfraquecimento (mercadológico). Sabemos que os inúmeros programas de pós-graduação na área de Letras, disseminados pelo país, propiciaram a formação de uma massa crítica atualizada e em diálogo com o pensamento crítico global, o que resultou no incremento de publicações de livros, geralmente por editoras universitárias, que já não dão conta, no entanto, do grande número de originais que lhes são apresentados, no momento em que se lê cada vez menos ensaios literários, dos quais as editoras comerciais, por sua vez, costumam fugir como o diabo da cruz. Refinam-se conceitos, criam-se novas linhas de investigação, propõem-se outras categorias analíticas, abre-se espaço para os discursos minoritários, avança-se na abordagem de autores canônicos ou não... para morrer na praia, no confinamento do espaço – restrito – das nem sempre atraentes teses universitárias.
Não pretendo fazer um diagnóstico cerrado da situação e muito menos um exercício de futurologia, mas apenas esboçar algumas questões que talvez possam servir para a reflexão dos rumos que vem tomando o que continuamos a chamar de literatura, salientando sua dimensão comunitária – pós-nacional, portanto – como condição para se pensar a possibilidade de outra forma de crítica literária e cultural na atualidade. Sendo assim, valho-me da discussão de alguns conceitos, ideias e observações como os de comunidade e imunidade (Roberto Esposito), partilha do sensível e espectador emancipado (Jacques Rancière), pós-autonomia (Josefina Ludmer), espetáculo de realidade (Reinaldo Laddaga).
Roberto Esposito propõe uma revisão do conceito de comunidade, ao identificar no substantivo communitas, bem como no seu adjetivo correspondente communis, um campo semântico relativo à obrigação, ao dever e ao dom para com o outro. Compartilhar esse compromisso com o outro implica uma forma de relacionamento baseada não na união das pessoas em torno da propriedade de algum atributo, mas na comum expropriação das suas subjetividades: a comunidade se torna o espaço do impróprio na medida em que a contínua exposição à alteridade caracteriza uma modalidade de convivência em que os sujeitos coincidem com a própria falta de identidade. Portanto, a comunidade não é apenas o contato com a diferença representada pela alteridade, mas a expressão de que os indivíduos são constituídos e contaminados subjetivamente pela figura do outro, o que desestabiliza as fronteiras que garantem a coesão identitária e subjetiva dos sujeitos.
Ao conceito de communitas, Esposito associa o de immunis. A imunidade retira e libera o indivíduo da convivência compartilhada pelo munus, imunizando-o do dever do dom. Assim, a noção de imunidade se opõe semanticamente ao conceito de comunidade porque confere ao sujeito, tanto individual quanto coletivo, um domínio do próprio que é capaz de proteger sua identidade do risco e do perigo representados pelo contato com o outro. Assim, o pensamento político moderno se caracteriza pelo paradigma imunitário, pois sua ação visa construir a concepção de indivíduo – a partir da noção jurídica da propriedade privada contida no contrato –, protegendo a integridade de sua identidade dos possíveis conflitos decorrentes da relação comunitária com os outros. A immunitas, então, com o fim de proteger o indivíduo da ameaça do conflito e da morte representada pelo relacionamento baseado no munus, visa sacrificar o principal conteúdo da vida: a comum convivência com o outro. O potencial destrutivo da lógica autoimunitária é claro, na medida em que a proteção contra algum inimigo estrangeiro gera a interiorização da violência mobilizada contra o próprio corpo político (o exemplo mais retumbante disso hoje é em muitos sentidos o governo Trump).
Comunidade, imunidade e munus, este último referente ao ato obrigatório de doar, à circulação obrigatória da doação. Contudo, o munus não é uma dinâmica de aquisição de alguma propriedade recebida e acumulada, mas um ato de doar e de dar cuja característica de reciprocidade pressupõe a subtração, a perda e a transferência. Assim, os sujeitos são unidos pelo dever de compartilhar o dom para com o outro de maneira que esse compartilhamento do dom se configura não como a adição de objetos, mas como uma modalidade de convivência baseada na falta e na incompletude.
Podemos retirar daí a noção de leitura – em toda sua extensão – como doação ou “partilha do sensível”, o que para Jacques Rancière dá forma à comunidade: “Partilha significa duas coisas: a participação em um conjunto comum e, inversamente, a separação, a distribuição em quinhões. Uma partilha do sensível é, portanto, o modo como se determina no sensível a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas”. A leitura, como todo ato estético, acrescento, são configurações da experiência que “ensejam novos modos do sentir e induzem novas formas de subjetividades políticas”, atuando como “formas de inscrição do sentido da comunidade”.
A leitura como “recorte sensível do comum da comunidade” instaura formas de visibilidade e sua disposição heterogênea de fazer estranho o próprio pensamento ou o pensamento do próprio, reforçando a ideia comunitária de coincidência de sujeitos e temas com sua falta de identidade. Uma comunidade de leitores é, pois, anônima, “sem legitimidade (...) desenhada tão somente pela circulação aleatória da letra”, como já previra Derrida há muito tempo. Pode-se considerar essa comunidade, então, como formadora do que Rancière chama de “regime estético” das artes, que se constitui pela relação do produto idêntico ao não produto, saber transformado em não saber, logos idêntico a um pathos, intenção do inintencional etc. Formas do inespecífico da literatura contemporânea enquanto potência de significação do real: “o real precisa ser ficcionado para ser pensado”. Não que tudo tenha se tornado ficção, alerta Rancière; são constituídos modelos de “formas de inteligibilidade que torna indefinida a fronteira entre razão dos fatos e razão da ficção”. Remete menos à tradição do novo do que à novidade da tradição: “O regime estético das artes é antes de tudo um novo regime de relação com o antigo”, uma vez que “a temporalidade própria ao regime estético das artes é a de uma copresença de temporalidades heterogêneas”, o que poderia ser confirmado por Giorgio Agamben com a noção de inatualidade do presente, em consonância com a ideia que o filósofo tem do contemporâneo.
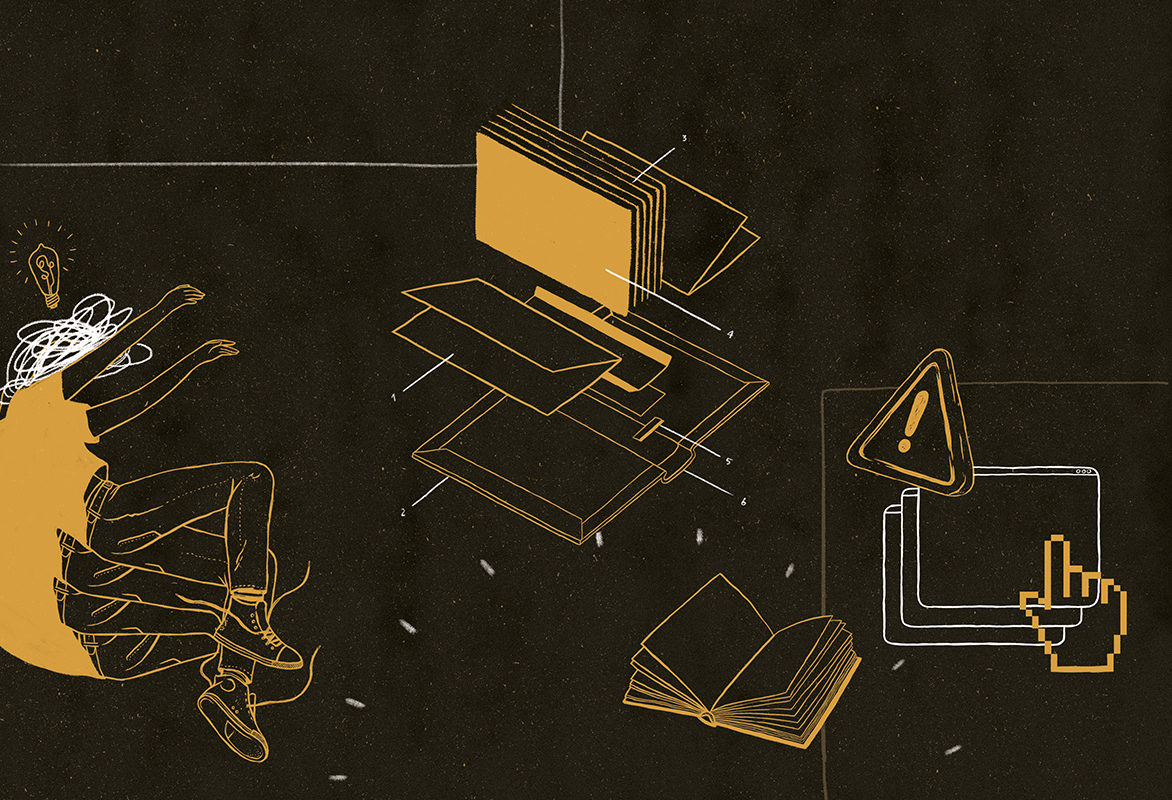
A literalidade é, para Rancière, condição e efeito da circulação dos enunciados literários “propriamente ditos”, ou seja, da noção expandida de literatura como “quase-corpos”, “blocos de palavras” circulando sem pai legítimo e que, por isso mesmo, não produzem “corpos coletivos, mas introduzem nos corpos coletivos imaginárias linhas de fratura, de desincorporação”, responsáveis por “comunidades aleatórias que contribuem para a formação de coletivos de enunciação”: “as vias de subjetivação política não são as da identificação imaginária, mas as da desincorporação ‘literária’”. A política do munus passa, então, por essa “desincorporação” – pelo “impessoal” ou pela “terceira pessoa”, ainda segundo Esposito – no sentido de uma relação indissolúvel entre o “ordinário” do trabalho e a “excepcionalidade” da arte, pois é como trabalho que a arte tem o caráter de atividade exclusiva: “o esteta flaubertiano é um quebrador de pedras”, alerta Rancière.
A ideia de arte como “transformação do pensamento em experiência sensível da comunidade” orienta, até certo ponto a ideia de pós-autonomia, de Josefina Ludmer, mas dessa vez voltada para a incorporação da escritura. Essas escrituras não admitem leituras literárias; isso quer dizer que não se sabe ou não importa se são ou não são literatura. E tampouco se sabe ou não importa se são realidade ou ficção. Instalam-se localmente em uma realidade cotidiana para “fabricar um presente”, e esse é precisamente seu sentido.
Apesar de se apresentarem como literatura, essas escrituras não podem mais ser lidas por meio de categorias literárias – “autor, obra, estilo, écriture, texto e sentido” –, submetidas que são a uma operação de esvaziamento em que cada uma dessas categorias resta sem densidade, sem paradoxo, sem indecibilidade, “sem metáfora”. São e não são literatura; são ao mesmo tempo ficção e realidade. Produzem novas condições de produção e circulação que modificam modos de ler e constituem, vale repetir, “comunidades aleatórias” (Rancière).
As escrituras ou literaturas pós-autônomas se fundam em dois postulados do mundo atual: 1) “todo o cultural (e literário) é econômico e todo econômico é cultural (e literário)”. A dissolução de uma esfera autônoma para a produção estética deve ser imaginada em termos de uma larga expansão da cultura por todo o terreno social e que o desmoronamento geral das divisões entre as disciplinas deixa as análises estéticas numa grande incerteza, como se a produção e o consumo da arte em nossos dias tivessem sofrido uma mutação fundamental, que torna irrelevantes os paradigmas anteriores; 2) a realidade (pensada nos meios que a constituem) é ficção e a ficção é realidade.
Atuam nas fronteiras da “literatura”, mas também da “ficção”, ficando dentro-fora de ambas. Reformulam a categoria de realidade: não se pode lê-las como mero “realismo” em relações referenciais ou verossimilhantes. Tomam a forma do testemunho, da autobiografia, da reportagem jornalística, do diário íntimo, da etnografia. Saem da literatura e entram na realidade do cotidiano (e o cotidiano é a TV, são os meios de comunicação, os blogs, os e-mails, é a internet etc.). Fabricam o presente com a realidade cotidiana, e essa é uma de suas políticas. A realidade cotidiana não é a realidade histórica verossímil e referencial do pensamento realista e sua história política e social. Mas, sim, uma realidade construída pelos meios, pelas tecnologias e pelas ciências. Uma realidade que não quer ser representada, pois já é pura representação: tecido de imagens e palavras em diferentes velocidades, graus e densidades, interiores-exteriores a um sujeito, que inclui o acontecimento, mas também o virtual, o potencial, o mágico, o fantasmático. Na “realidade cotidiana” não se opõem “sujeito” e “realidade histórica”, “literatura” e “história”, “ficção” e “realidade”.
As literaturas pós-autônomas, a partir de alguma ilha urbana brasileira, dramatizam o processo da literatura autônoma aberto por Kant e a modernidade. Declaram o fim da era em que a literatura teve uma “lógica” interna e um poder crucial: o poder de definir-se e ser regida pelas próprias leis, com instituições próprias (crítica, ensino, academia), que debatiam sua função, seu valor, seu sentido. Debatiam, também, a relação da literatura com outras esferas, a política, a economia, a realidade histórica. Perde-se a autonomia (seu poder de autorreferenciar-se) com o fim das esferas (Deleuze).
Isso leva, claro, ao fim dos embates e das divisões e oposições tradicionais entre formas nacionais e cosmopolitas, formas do realismo e da vanguarda, da literatura pura e da literatura engajada, da literatura rural e da literatura urbana. E da diferenciação entre realidade (histórica) e ficção. A literatura contemporânea oscila entre os dois termos.
É o fim também das identidades literárias que eram identidades políticas, porque não mais se dramatiza a luta pelo poder literário e pela definição do poder da literatura (em virtude do fim da literatura concebida como esfera autônoma ou como campo, para usar o termo de Bourdieu). Daí a perda da especificidade é perda do poder crítico, emancipador e mesmo subversivo que a autonomia atribuiu à literatura como política própria.
A literatura atual exibe ou não as marcas de pertencimento à literatura e aos tópicos de autorreferencialidade: as relações especulares, o livro no livro, o narrador como escritor e leitor, as duplicações internas, as citações, os isomorfismos. À sua maneira, coloca o problema do valor literário: “Eu gosto e não me importa se é boa ou ruim enquanto literatura”. Depende de como se lê e de onde se lê a literatura hoje. Ou se lê seu processo de transformação das esferas (perda da autonomia literária) ou se continua sustentando uma literatura no interior da literatura. Ou se vê a mudança da literatura e aparece outra nova episteme; ou não se vê e se nega e continua a existir literatura e não literatura, literatura boa e literatura ruim. Atravessam, pois, a fronteira da literatura e entram num meio real-virtual sem exterioridade, a imaginação pública: “em tudo que se produz e circula e nos penetra e é social e privado e público e ‘real’”. Postulam, enfim, um território, a imaginação pública ou fábrica do presente, onde Ludmer situa sua leitura e onde ela mesma se situa. Nesse lugar, não há realidade oposta à ficção, não há autor e tampouco demasiado sentido.
Nessa atopia em que, paradoxalmente, Ludmer situa a literatura – ou melhor, o que ela chama de escritura –, abre-se espaço para a expansão do texto como uma das inúmeras formas de instalação. Uma instalação não se analisa ou se interpreta, mas se visita, se experimenta. O papel do leitor ou do crítico se veria reduzido – ou ampliado, segundo a perspectiva que se toma – a uma partilha especial do sensível por um ato simultâneo de incorporação e desincorporação, a meio caminho entre perder toda distância, conforme o teatro da crueldade de Artaud, e tomar toda distância, conforme o teatro épico de Brecht. Chega-se aqui ao termo de uma desconstrução que vem ocorrendo desde o fim dos tempos modernos, quando o valor artístico ou literário, atrelado ao novo e a uma pesada tradição, entra em crise e se transforma, antes de tudo em valor cultural. Se na escultura a expansão se deu, segundo Krauss, num conjunto diferente de termos da relação arquitetura/paisagem e na pintura no conjunto unicidade/reprodutibilidade, na literatura pode-se dizer que se instituiu a inespecificidade como forma de relação intersemiótica, na qual a realidade se impõe como espetáculo.
Reinaldo Ladagga enumera cinco condições de enunciação literária, que poderiam, sem dúvida, ser relacionadas com a ideia de instalação e performance. A primeira delas – “toda literatura aspira à condição de arte contemporânea” – diz respeito à disposição dos artistas de construírem não objetos concluídos, mas perspectivas ópticas ou dispositivos de exibição de fragmentos que permitem observar um processo em curso. A segunda – “toda literatura aspira à condição de improvisação” – remete à velocidade das construções de linguagem que se publicam sem reservas e muitas correções, em que livros são blocos imperfeitos e irregulares de transporte da palavra escrita, como se simulassem escritas digitais no calor da hora. O terceiro – “toda literatura aspira à condição de instantâneo” – liga-se à improvisação e ao arranjo no instante do que o escritor encontra diante de si. A quarta – “toda literatura aspira à condição de mutante” – refere-se ao estatuto do inconstante, do variável e de que tudo pode ser modificado a qualquer instante. O quinto e último – “toda literatura aspira à indução de um transe” – implica na condição daquele que depõe a vontade e o poder de constituir uma suma do mundo.
Contemporâneo, improvisação, instantâneo, mutante e transe são termos da equação que delineia a valorização da “imaginação organizativa” – “valorização crescente de artefatos verbais que favorecem o desenvolvimento de laços associativos”, na forma de atividades orientadas para uma finalidade ético-política, para tudo aquilo que incremente a vida associativa, propensa a inventar modos inéditos de associação, como, por exemplo, os textos de Washington Cucurto e o trabalho de Eloísa Cartonera, na Argentina, ou a literatura periférica das grandes cidades brasileiras.
A formação de “comunidades aleatórias” de leitores no presente como que radicaliza essa propensão associativa em que todo ponto de emissão se torna uma larga conversação sem começo nem fim determinados. É a literatura – diz Ladagga – “de um momento em que todo objeto é por sua vez uma membrana, todo ponto de subjetividade um espaço de filtrações e todos os impulsos se reúnem no que Rem Koolhas chama de junkspace, ‘espaçolixo’, a continuidade dos resíduos que se resolvem num mesmo fluxo que conjuga informações, ficções, invenções, documentos e disfarces”. Esse poroso complexo imaginário das artes verbais nos leva a traçar um mapa – em processo – como condição ou única saída para a crítica contemporânea, colocada na posição de observadora e experimentadora, não de avaliadora, como num teatro – numa comunidade – onde o público (o leitor) se vê confrontado consigo mesmo enquanto coletivo, num espetáculo que se dá como “mediação estendida até sua própria supressão” e mesmo a supressão do lugar hierárquico ocupado pelo crítico. Ao tratar do teatro, ressaltando a capacidade dos anônimos, Rancière, assinala que “o poder comum dos espectadores não reside em sua qualidade de membros de um corpo coletivo ou de alguma forma específica de interatividade. É o poder que tem cada um ou cada uma de traduzir a sua maneira aquilo que ele ou ela percebe, de ligá-lo à aventura intelectual singular que os torna semelhantes a qualquer outro mesmo quando essa aventura não se parece com nenhuma outra”.
O inusitado da experiência artística dramatiza, de certa forma, o lugar ocupado pelo crítico – se ainda vale o termo e sua função – em meio a efeitos de deslocamento que não permitem a certeza das categorias modernas de análise e interpretação. O acontecimento da literatura – como quer Jacques Derrida, em epígrafe – não oferece garantias, principalmente hoje em dia, nem mesmo para sua nomeação ou identificação, tornando o papel do crítico cada vez mais difícil e arriscado, ao tornar indecidível a necessidade da sua presença na comunidade anônima de leitores em que se transformou a literatura: “é nesse sentido que toda escrita e toda leitura atendem a uma dupla injunção do acaso e da necessidade, da necessidade que se deixa guiar também pelo acaso, para poder efetivamente reinventar um destino”.
A experiência da leitura atual, atravessada por incorporações e desincorporações, associações e dissociações, traduz a “potência comunitária” da literatura contemporânea no instante em que todas as competências artísticas tendem a sair de seu próprio domínio e trocar seus lugares e poderes, assinalando, em contraponto, o lugar da crítica de qualquer um como o lugar do leitor emancipado. Voltemos ao começo para terminar: a crítica universitária atual vive, assim, a um só tempo, seu momento mais alto de realização e seu mais decisivo apagamento – ou desafio. Além da necessidade de continuar a cruzar fronteiras disciplinares, o que já vem fazendo há muito tempo com sucesso, se vê frente à provocação de suspender o juízo crítico de que é portadora e abdicar de seu papel legitimador como condição paradoxal para fazer emergir novos valores que deem conta do trânsito indisciplinado da letra contemporânea.