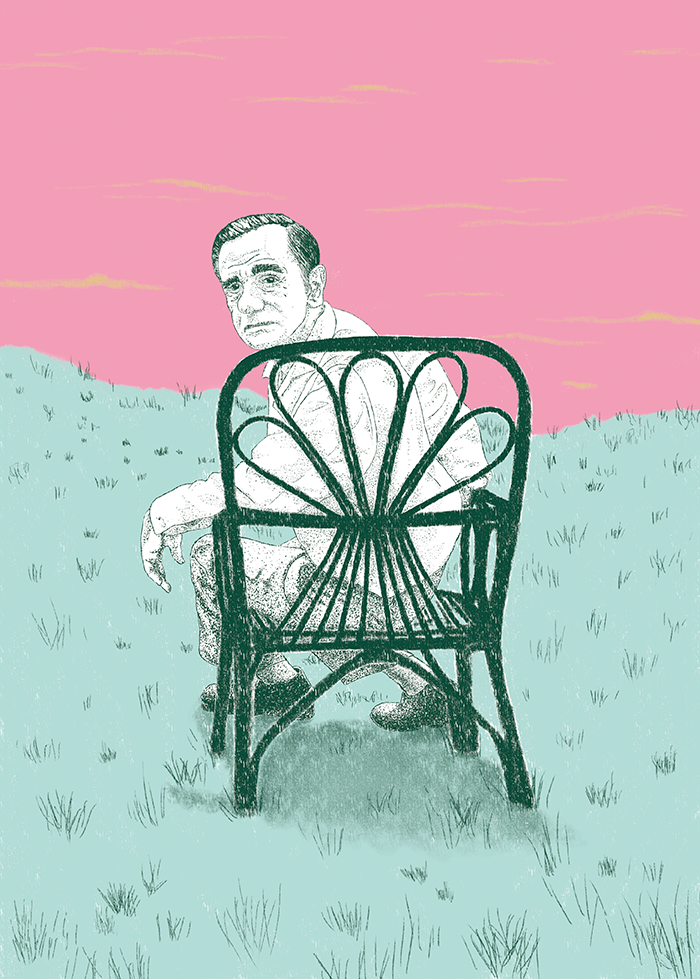
João Cabral de Melo Neto (1920-1999) morava na Praia do Flamengo – um apartamento elegante e espaçoso, no sexto andar de um prédio antigo. Poeta reconhecido, de volta ao Brasil depois de passar 40 anos no exterior na condição de diplomata, instalou-se definitivamente no Rio de Janeiro. Os janelões da sala de visitas abriam em par para a Baía de Guanabara, mas, não raro, o visitante se deparava com as cortinas abaixadas. A um amigo intrigado diante daquelas janelas fechadas sobre uma paisagem deslumbrante, ele explicou: “Deslumbrante é estar num alpendre de frente para o canavial”. A Baía de Guanabara não o emocionava, mas João era capaz de ficar três, quatro horas diante de uma paisagem onde só havia canavial e vento – apreciando o vento no canavial. Foi essa paisagem que ele transformou em poesia.
João Cabral aprendeu a estimar o vento no canavial nos engenhos de açúcar da família, em Pernambuco, onde passou boa parte da infância e da adolescência: Poço do Aleixo, Pacoval e Dois Irmãos. Para os três fez poesia, mas sua preferência era o engenho Pacoval: “Dos ‘Engenhos de minha infância’ / onde a memória ainda me sangra, // preferi sempre Pacoval / a pequena Casa-Grande de cal, // com telhados de telha-vã / e a bagaceira verde e chã” (do poema Menino de três engenhos). Escrevia poesia e escondia os poemas do pai. Um conhecido da família entregou o candidato a poeta: “Cabral, você sabe que João é poeta?” Existe outra versão: o bisbilhoteiro teria sido o irmão mais velho, Virgílio, que abriu as gavetas onde João trancava seus poemas e mostrou tudo ao pai. Nas duas versões, só não muda a reação de Luís Antônio Cabral de Melo. Eram os anos de 1940, a sociedade pernambucana podia ser conservadora até não mais poder e julgar isso de poesia coisa de desocupado, mas o pai de João Cabral não fazia objeção a ter filho poeta. Pedra do sono, seu primeiro livro, foi publicado em 1942 com a ajuda financeira de Luís Antônio – o poeta estreou com uma edição pequena e caprichada.
Durante os 40 anos seguintes, João Cabral construiu sua obra – publicou um total de 20 livros. Depois de Pedra do sono seguem Os três mal-amados (1943), O engenheiro (1945), O cão sem plumas (1950). O cronista Rubem Braga, que sempre reclamava um mínimo de objetividade na atribuição de um sentido à narração, tinha horror a esse título. Não perdia ocasião para cobrar do autor: “Se um cão não tem plumas, como pode ficar sem elas?” Resposta de João: “Pior vai ser o dia em que o rio começar a falar”. Com O rio (1954), o Capibaribe, de fato, falou. O rio sobrepôs sua voz à do poeta e João Cabral começou a consolidar o estilo límpido, seco, com rítmica e métricas pouco usuais em língua portuguesa, tal como aparece nos trabalhos seguintes: Paisagens com figuras, Morte e vida severina e Uma faca só lâmina (todos de 1956).
Na década seguinte, com Quaderna (1960) e A educação pela pedra (1966), João Cabral assumiu o pleno domínio de sua linguagem. Já no único livro que editou durante os anos 1970, Museu de tudo (1975), ele expôs as variações lúdicas em torno das obsessões de sua poesia. Nas publicações da década seguinte – A escola das facas (1980); Auto do frade (1984); Crime na calle Relator (1987) – João rearticulou o campo de referências que construiu para sua poesia na larga confluência entre Pernambuco e Sevilha e acrescentou paisagens e figuras da África e dos Andes. Sevilha andando (1990), sua última obra, completa a conexão entre arte, técnica e conceito na construção de sua linguagem poética.
João Cabral podia ser um sujeito magro, introvertido e meio ranzinza, mas sempre foi bom de conversa, tinha humor, atraía para si a atenção das pessoas e os olhares das mulheres. Era elegante, andava impecavelmente escanhoado, os cabelos bem repartidos e assentados com gel e adorava uma roda literária em mesa de bar. Em 1942, o poeta decidiu mudar-se de vez para o Rio de Janeiro, aonde só chegou depois de 13 dias de viagem. O mundo estava em guerra, submarinos alemães torpedeavam os navios mercantes na costa brasileira e as viagens marítimas foram suspensas por tempo indeterminado. João quis nem saber: tomou um trem até Maceió; um ônibus até Penedo; uma barca no Rio São Francisco com destino a Aracaju; um trem para Salvador; outro trem para Jequié; um ônibus até Montes Claros; novo trem rumo a Belo Horizonte; e mais um último trem que o depositou são, salvo e exausto na Central do Brasil, no Rio de Janeiro.
Estudante, no Recife, João Cabral dava longas caminhadas, da Torre Malakoff, na Rua do Bom Jesus, até o Parque Amorim, no bairro da Boa Vista. Consolidou o hábito das caminhadas em Barcelona, seu primeiro posto no estrangeiro. Mas dizia que só em Sevilha o gosto de trocar pernas pelas ruas acentuou sua vocação para absorver a vida exterior, “e não para exteriorizar a minha vida interior”. Pode ser, mas ele caminhou pelas ruas de todas as cidades onde residiu na condição de diplomata: Barcelona, Sevilha, Madri, Londres, Marselha, Genebra, Berna, Assunção, Dakar, Quito, Tegucigalpa, Porto, Brasília. Provavelmente foi na solidão da vida no exterior que João encontrou o rumo altamente pessoal que percorreu sua poesia. Além, é claro, da descoberta da paisagem castelhana como metáfora do Sertão pernambucano. E deve ter sido em alguma dessas cidades que ele começou a olhar torto para certo tipo de poesia. A iluminação lírica, a aposta nas emoções exageradas, o trato dos sentimentos agudos, o espírito romântico, tudo isso tirava do sério um poeta como João Cabral, que dava duro diariamente para conseguir limar versos “com mão certa, pouca e extrema: / sem perfumar sua flor / sem poetizar seu poema” (Alguns toureiros).
O argumento de João foi sempre esse. Poesia se conquista no domínio da linguagem onde se elimina tudo quanto é excesso; inclui técnica, cálculo, empenho, abnegação e esforço – muito esforço. Talvez venha daí a fama do poeta antimusical, avesso à canção e com horror à música – fama, aliás, que ele parece ter tido um gosto particular em cultivar. Mas João era antimelódico; não tinha nada de antimusical. A música que ele gostava de ouvir e que estrutura sua poesia é modulada por outro padrão: aberta aos ruídos, às dissonâncias, aos jogos com as séries, aos intervalos, aos timbres inusitados. Sobretudo, é uma música capaz de impedir a todo custo uma recepção distraída ou dolente. “O meu esforço na vida é me fazer acordar. (…) eu não quero ser embalado, quero ser acordado”, declarou, em 1992, numa entrevista ao Jornal do Brasil. Uma música estridente como o frevo. Ou como o cante hondo (ou cante jondo) andaluz, uma espécie de prosa cantada que ele conheceu no sul da Espanha: um canto dissonante que volta obsessivamente a uma mesma nota e mimetiza o som que é anterior à linguagem como o grito dos pássaros e de outros animais e os infinitos ruídos que a natureza oferece. Uma música que soe “a palo seco”, diria João: seca, acre, sucinta, como a explosão que sai de dentro da guitarra cigana que ele ia escutar, nas praças, em Sevilha.
Foi Chico Buarque quem desencavou essa musicalidade solidamente enterrada nas profundezas do método poético de João Cabral quando, em 1965, o Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA), resolveu encenar Morte e vida severina e chamou o compositor, então com 21 anos, para musicar. Chico foi malandro e musicou o poema sem João saber – ele só soube quando estava tudo pronto. Depois de Chico ter desenterrado, ficou fácil ver onde a música estava escondida: sotaque, fala, ritmo, dicção, timbre, acento, voz.
Morte e vida severina tem a estrutura de um auto natalino – uma forma tradicional de teatro pernambucano, com forte influência do auto pastoril originário da cultura oral medieval e ibérica. O auto está organizado em 18 jornadas (ou atos) que se dividem em duas partes: os 13 primeiros atos narram atribulações do personagem Severino no decorrer de sua caminhada do Sertão ao Recife; os cinco últimos reproduzem o auto de Natal propriamente dito. João Cabral compôs Morte e vida severina como um longo poema narrativo que ele pretendia destinado à leitura popular. Por esse lado, o poeta frustrou-se. “Quando o livro foi publicado, dei para o Vinicius (de Moraes) e ele veio com o maior entusiasmo. Então eu lhe disse, ‘olha Vinicius, eu não escrevi esse livro para você e sim para o público analfabeto. Mas estou vendo que quem gosta do livro são os intelectuais... foi ingenuidade minha’. Morte e vida severina não chega ao povo analfabeto que consome os romances de cordel”.
Além da frustração do autor, o poema carrega também o peso do que os historiadores chamam “tempo da obra”. O conceito não se refere apenas ao momento da criação do artista, mas examina o contexto intelectual e político que confere sentido a uma obra, o conjunto de argumentos nos quais o autor pretendeu intervir, suas estratégias de intervenção e o tipo de intervenção que seu texto procurou constituir no debate de ideias da época. Nos anos 1950, cerca de 70% dos brasileiros permaneciam no campo – a população urbana só superaria a rural no final da década de 1960. O poema nasceu imerso nessa realidade: as lutas pela terra, as condições miseráveis de sobrevivência de boa parte da população pobre, a difícil conjuntura política dos anos 1950 e 1960, o início da ditadura militar e a urgência da resistência popular – tudo isso, a montagem do TUCA radicalizou.
Hoje, Morte e vida severina se faz ouvir com mais permeabilidade. Cerca de 60 anos depois, já decantadas do tempo da obra, as marcas de contundência do poema podem ser outras e mais largas, indicando sua atualidade e permanência no tempo. Uma delas salta aos olhos de quem anda pelas principais cidades do país e consegue ver o que permanece invisível a boa parte da sociedade brasileira: o aumento exponencial da população sem teto, as ondas de lixo quebrando pelas ruas, os prédios sucateados, as casas deterioradas. “São homens de vida severina”, explica João Cabral: não têm nome próprio, nem direito à sua personalidade legal de cidadãos, a serem protegidos por ela e a agirem por meio dela na cena pública. São vítimas de uma dupla injustiça – a injustiça da urgência da sobrevivência e a injustiça da vergonha da obscuridade.
João Cabral talvez tenha escrito Morte e vida severina de olho no Brasil que lhe foi dado viver, mas pensando em nós, no futuro; pode ser essa a outra marca do poema. “De que laço humano é feita a substância profunda de uma sociedade como a brasileira?”, ele parece se perguntar; pois uma sociedade que não se funda nos laços da solidariedade, da tolerância e da esperança – o conjunto de valores que sustenta a narrativa do poema e semeia o percurso do retirante Severino – é também sem compaixão, “não merece o nome de cidade, mas antes o de solidão”. A conclusão é de Espinosa, no século XVII, mas o autor de Morte e vida severina, quem sabe, não discorde dela.

O POETA SOB SUSPEITA
Na carreira diplomática nem tudo correu em paz para Cabral. Em 1952, João Cabral se viu obrigado a largar a rotina de segundo secretário da embaixada do Brasil em Londres e voltar às pressas ao Rio de Janeiro para responder a dois processos: o primeiro, um processo administrativo; o outro, criminal. A acusação era a mesma: ser comunista. O episódio é enrolado, as controvérsias ainda existem, mas quem acusou foi um colega diplomata – Mário Mussolini Calábria. Ninguém sabe dizer exatamente como isso aconteceu, mas ele teve acesso a uma carta de João Cabral endereçada a Paulo Cotrim, também diplomata, em Hamburgo, encomendando artigo sobre a economia brasileira para revista ligada ao Partido Trabalhista Inglês. A coisa parecia suspeitosa; afinal, João recomendava ao colega o uso de pseudônimo. Provas, nenhuma; ainda assim, Calábria denunciou os dois como comunistas e despachou a carta ao ministro das Relações Exteriores, João Neves da Fontoura, que, convencido do ridículo da história, engavetou tudo.
Mas a intriga prosperou e a denúncia chegou às mãos de Carlos Lacerda. Para João Cabral foi um desastre. O ambiente político no segundo governo de Getúlio Vargas andava cada dia mais insalubre, a oposição mais e mais radicalizada e Lacerda era sua principal liderança. Ele não tinha só um perfil ultraconservador; também sabia manejar as palavras e era um mestre insuperável na arte da intriga política: surpreendia o adversário com suspeitas, acusava com ou sem provas, ridicularizava, achincalhava, sempre de forma sistemática e em tom contundente. Lacerda apostava na força da imprensa como fator de desestabilização do governo Vargas e, em seu jornal, Tribuna da Imprensa, mirava dois alvos prioritários: combater o comunismo e denunciar escândalos de corrupção verdadeiros ou não, mas que visavam comprometer a administração de Getúlio. Quando soube da carta engavetada pelo Itamaraty, Lacerda decidiu comprar a história. Publicou tudo, e à sua moda.
No dia 27 de junho de 1952, Tribuna da Imprensa chegou às bancas com uma manchete escandalosa: “Traidores no Itamaraty”. O jornal barbarizou: denunciava a existência de uma célula comunista atuando no Itamaraty – que batizou “a célula Bolívar” –, acusou João Cabral de ser seu principal dirigente, alertou as autoridades de que havia “um plano diabólico em ação”. O propósito da célula era “fazer funcionar uma peça da engrenagem internacional que trabalha para a Rússia e pretende colocar os segredos militares brasileiros nas mãos de Moscou”. Lacerda reservou para o final uma denúncia espetacular: o diplomata João Cabral de Melo Neto tinha montado em sua casa, em Londres, uma tipografia onde imprimia panfletos comunistas sob orientação direta da União Soviética.
Existe um grão de verdade nesse pedaço da história. Em 1947, João Cabral ainda servia em Barcelona e sofria da angústia que será cada vez mais presente em sua vida. Foi consultar um médico, que sugeriu exercícios físicos. Sem paciência alguma para praticar esportes, João resolveu seguir a orientação do médico – mas do seu jeito. Comprou uma prensa mecânica Minerva, montou um quarto de trabalho em casa e começou a imprimir manualmente – fazia “ginástica poética”, explicava aos amigos. Tomou gosto pela coisa, planejou uma série de livros de poetas de sua geração brasileiros e espanhóis, e criou um selo: “O Livro Inconsútil”. Não se conhece nenhum panfleto soviético impresso nessa prensa – o que, a rigor, não faria nenhuma diferença para Carlos Lacerda: também não se tem notícia de a Tribuna da Imprensa ter dado uma matéria com um mínimo de isenção. O jornal, contudo, martelou a infiltração comunista no Itamaraty durante uma semana. No dia 18 de agosto, O Globo repercutiu. De quebra, os dois jornais detestavam a poesia de João Cabral, aproveitaram a oportunidade e pespegaram no autor a pecha de “poeta hermético”.
Dessa vez, não teve jeito. O Itamaraty abriu processo administrativo à revelia dos acusados que só tomaram conhecimento do inquérito quando o governo mandou publicar o ato de punição no Diário Oficial, colocando João Cabral em disponibilidade, por tempo indeterminado e sem vencimentos. Além disso, Getúlio Vargas mandou correr a denúncia no Conselho de Segurança Nacional. Incluiu o poeta no artigo 2°, inciso 11, da Lei de Segurança Nacional então em vigência. A acusação: planejar desmembrar o território nacional por meio de movimento armado ou tumulto preparado. João Cabral só conseguiu ser inocentado quando o processo bateu no Supremo Tribunal Federal, em 1954. E a reintegração ao Itamaraty só ocorreu em 1955, por decisão direta do novo presidente da República, Juscelino Kubitschek.
JK fez o certo: tomou posse e reintegrou João Cabral. Mas, mineiro ao cubo e preocupadíssimo com a reação de Carlos Lacerda, fez tudo meio na surdina. Mandou o poeta meio para a Espanha realizar pesquisa histórica em Sevilha e descobrir o que existia de documentos sobre o Brasil no Arquivo Geral das Índias. Juscelino não tinha como saber disso, mas História é um assunto caro à genealogia dos Cabral de Melo: o irmão mais novo do poeta, Evaldo Cabral de Melo, ainda viria a ser um dos grandes historiadores do Brasil – não só de agora, mas de qualquer época. João Cabral, por sua vez, publicaria, trinta anos depois, o Auto do frade, um longo poema com estrutura para teatro onde dá voz a frei Caneca (1779-1825), narra o projeto republicano e libertário que animou a Confederação do Equador, em 1824, e explora a fundo as relações entre política, história e retórica. Além disso, a encomenda de JK rendeu ao poeta frutos diversos: um poema sobre os padres que chegavam ao prédio do Arquivo das Índias bem cedo, ocupavam as mesas e não faziam rigorosamente nada – tagarelavam a manhã inteira esperando pela hora do almoço (Padres sem paróquia). Rendeu também um livro com jeito de guia de fontes para a história do Brasil e pouco conhecido até hoje: O Arquivo das Índias e o Brasil (Ministério das Relações Exteriores, 1966). E, é claro, rendeu o mais urgente: a nomeação de João Cabral para cônsul adjunto em Barcelona.
Mas, depois de enfrentar a Tribuna da Imprensa, um processo administrativo no Itamaraty, e outro, criminal, no Conselho de Segurança Nacional, João ficou cabreiro. Tinha motivo. A carreira diplomática sofreu alguns reveses, sobretudo durante a ditadura militar, que levou sete anos para autorizar uma única promoção sua. Talvez a decisão em se candidatar à Academia Brasileira de Letras, em 1968, tenha a ver com isso. Ele desconfiava de um cerco imposto pelos militares e, como costumava dizer seu amigo Otto Lara Resende, “A farda protege o fardão”. Proteger protegia, mas, em troca, a ABL carregava a fama de ser uma instituição chapa-branca. O ano de 1968 foi conturbado e terminaria pessimamente com a edição do AI-5. Os ânimos estavam acirrados, a intransigência comia solta e teve gente que não perdoou sua candidatura à Academia Brasileira de Letras – João Cabral passou aperto quando foi marcada a data da posse. Os poetas concretistas paulistas, Décio Pignatari à frente, anunciaram a intenção de embarcar em bando para o Rio de Janeiro e improvisar o que hoje em dia seria uma performance e tanto: eles pretendiam ocupar as primeiras filas do Salão Nobre do Petit Trianon – o palacete doado pelo governo francês, em 1923, para sediar a ABL –, vestidos de luto, carregando imensos círios acesos, e transformar a posse do novo imortal no velório literário do grande poeta de vanguarda, João Cabral de Melo Neto. A notícia circulou, virou um Deus nos acuda e alguns emissários foram despachados às pressas para convencer os concretistas a performar à vontade – mas, em São Paulo. João Cabral, contudo, não conseguiu se livrar da intolerância; passou a carregar a fama de “poeta oficial”.
Fama injusta, naturalmente. A poesia de João Cabral pode ser tudo, menos oficial. Tampouco é uma poesia fria, hermética, cerebrina, que exige um leitor especial e devidamente aparelhado para entendê-la. Seus versos, em diálogo com o cânone, e enveredaram por outras paragens pouco convencionais ao fazer poético. Os poemas que resultaram desse seu jeito próprio de caminhar pela escrita têm tudo a ver com a quebra dos lugares habituais da arte e do pensamento. É uma poesia de ruptura, contra o sono, contra o acomodamento.
João Guimarães Rosa, o rei da fabricação de uma escrita capaz de articular arte, técnica e conceito, percebeu logo que a poesia de João Cabral não é uma coisa só – e escreveu a ele comentando sobre isso. A carta de Guimarães Rosa era endereçada ao seu xará, mas serve de guia para quem quiser se aventurar na poesia de João Cabral. “Você pode estufar o peito”, escreveu Rosa. “É poeta e poesia que vão permanecer e atuar – animando, fecundando, influindo. (…) Você é poeta fortemente.” Experimente leitor, e confirme o diagnostico do escritor de Minas. Veja, com seus próprios olhos, o poeta João Cabral “tirar de um ponto uma paisagem, e fazer passar caravanas inteiras por um fundo de agulha”.
REFERÊNCIAS
Adélia Bezerra de Meneses. “A imaginação da terra”. In: ______. Do poder da palavra. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1995;
Alfredo Bosi. “O Auto do Frade: as vozes e a geometria”. In:_____. Céu, Inferno. São Paulo: Ática, 1988;
Antonio Carlos Secchin. João Cabral; a poesia do menos. São Paulo: Livraria Duas Cidades; Fundação Pró-memória; Instituto Nacional do Livro, 1985;
Almir Chediak (editor). Songbook Chico Buarque. Rio de Janeiro: Lumiar, 1999. (4 vol.);
Antonio Fernando de Franceschi (editor) Cadernos de literatura brasileira: João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: IMS, 1998;
Baruch de Espinosa. Tratado político. São Paulo: Martins Fontes, 2009 (capítulo 5, § 4);
Flora Süssekind. “Voz, figura e movimento na poesia de João Cabral de Melo Neto”. In: _______. A voz e a série. Belo Horizonte: Editora UFMG; Sette Letras, 1998;
Fernando de Barros e Silva. Chico Buarque. São Paulo: Publifolha, 2004;
João Alexandre Barbosa. João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Publifolha, 2001;
João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto: poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007 (org. de Antonio Carlos Secchin);
José Castello. João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma & diário de tudo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006;
José Castello. Vinicius de Moraes: o poeta da paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 1994;
Roberto de Oliveira (direção). Chico Buarque Especial: bastidores. DVD, 2005. Vol. 2;
Roniere Menezes. O traço, a letra e a bossa: literatura e diplomacia em Cabral, Rosa e Vinicius. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011;
Selma Vasconcelos. João Cabral de Melo Neto: retrato falado do poeta. Recife: Edição da Autora, 2009;
Waltencir Alves de Oliveira. O gosto dos extremos. São Paulo: EDUSP; Fapesp, 2012.