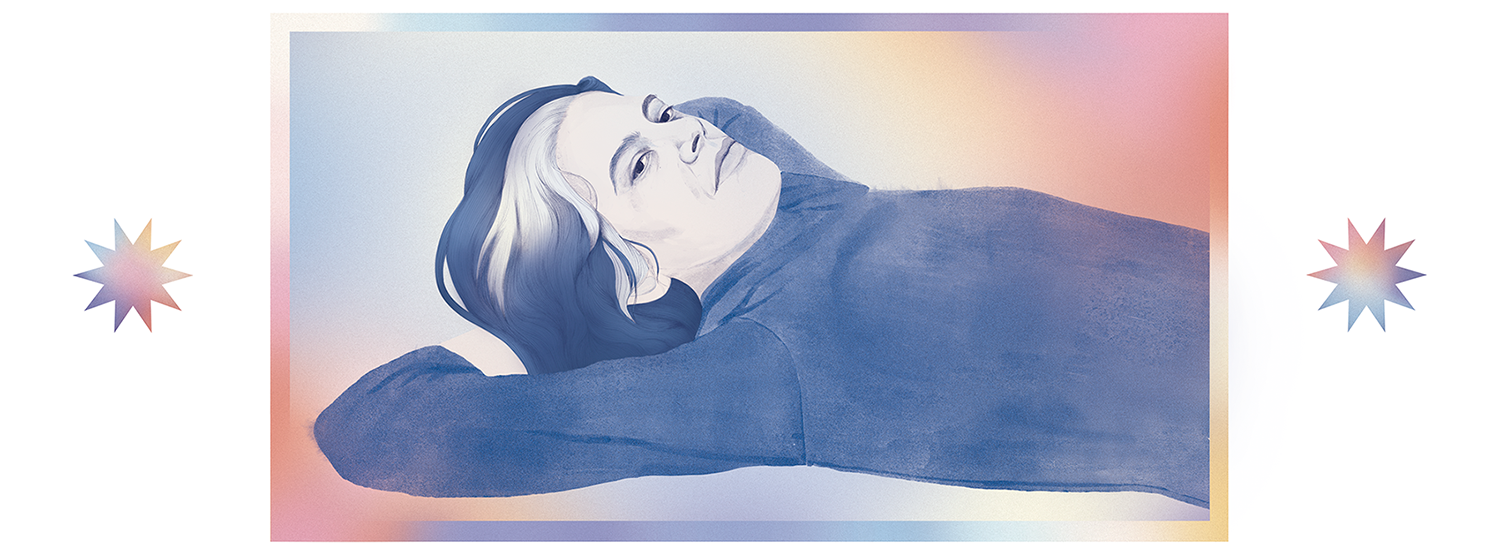
I. PROCURA-SE
Susan Sontag adoraria estar viva em 2019. Consigo imaginá-la velhinha e putíssima da vida, com uma conta no Twitter e trocentos mil seguidores, dando pitaco em tudo: Trump, Alexandria Ocasio-Cortez, aquecimento global, controle de armas, #metoo; consigo imaginá-la apontando a responsabilidade dos países industrializados na “crise de refugiados” de 2015 (também consigo imaginar o backlash que ela sofreria). Consigo imaginá-la, apesar da idade, se mudando pra Rojava, a região revolucionária no norte da Síria, e de lá fazendo transmissões ao vivo pelo Instagram. Consigo imaginá-la (e essa foi uma das suas maiores qualidades) apoiando intelectuais perseguidos pelos governos de Erdogan e Bolsonaro; organizando petições contra as prisões de Assange e de Lula. Em 2019, uma Sontag de 86 anos talvez voltasse a consumir anfetamina, vovó excêntrica, para dar conta de entender um mundo grotesco, onde gurus protofascistas defendem a “tese” de que a Terra é plana. Susan Sontag estaria insone, tuitando, publicando artigos, viajando; às vezes errando e às vezes acertando, mas sempre atenta e ativa. Sempre presente.
“Eu tenho certeza de que Susan teria amado ver a Ocasio-Cortez, por exemplo. Amado. A gente tem (nos EUA) uma esquerda tímida. E no Partido Democrata é tudo comprado pelas grandes corporações, pelo dinheiro organizado. Aí vem uma mulher forte, de 28 anos, pega o microfone sem medo dessa gente e defende posições que todo americano decente deve defender.” Em 2018, contra todas as probabilidades, a democrata Ocasio-Cortez venceu a vaga para representar Nova York nas eleições para Câmara dos Representantes dos EUA, com uma campanha que defendia pautas como sistema de saúde universal, licença parental para trabalhadores, Green New Deal e universidade gratuita. Nada radical, mas já bem progressista pros padrões ultraneoliberais dos EUA. “Eu tenho certeza de que Susan estaria na primeira fila, aplaudindo.”
As aspas acima são de Benjamin Moser em entrevista ao Pernambuco, por ocasião da publicação do seu livro Sontag: her life and work (Ecco, 2019), previsto para chegar ao Brasil mês que vem, pela Companhia das Letras, com tradução de José Geraldo Couto.
II. “SUSAN SONTAG”
“Susan Sontag”, assim, com as aspas, é famosa. Ela é a mulher que, já no começo dos anos 1960, (re)inventou nossas noções sobre estética e queer com o ensaio Notas sobre o Camp (1964), que estabeleceu definitivamente a fotografia como campo da pesquisa estética no livro Sobre fotografia (1977) e que repensou nossa relação com as doenças do corpo no livro A doença como metáfora (1978). É a intelectual que aparecia na televisão e cujo rosto, no fim da vida, estampava comercial de vodca em revistas do mundo todo. Entrevistas com Sontag são encontradas aos montes no YouTube e existe um documentário sobre ela, também disponível online. Ela era a companheira famosa da famosa fotógrafa Annie Leibovitz. Era a influencer do seu tempo.
Pois bem, vamos ao que sabemos, assim, por cima: escritora bissexual, judia e estadunidense, nascida em 1933. Precoce, conheceu Thomas Mann aos 14 anos, entrou na faculdade aos 16, casou aos 17, teve um filho aos 19, divorciou-se aos 26. Publicou o primeiro livro, a coleção de ensaios Contra a interpretação, em 1966, que incluía o fundamental e já citado Camp, além do texto que dá nome ao livro (um dos preferidos desta que vos escreve, aliás). Visitou o Vietnã e a Bósnia em suas guerras. Viu a queda do Muro de Berlim com os próprios olhos. Dirigiu filmes pelos quais ninguém caiu de amores. Escreveu romances. Ganhou vários prêmios ao redor do mundo. Dedicava especial energia para divulgar autores então desconhecidos do grande público estadunidense, como Roberto Bolaño, Sebald e Machado de Assis (sendo essa, talvez, sua qualidade mais adorável: a capacidade de admiração). Teve um câncer de mama aos 41 anos, fez mastectomia total, sobreviveu. Aos 70 anos, já doente com um câncer raro que tiraria sua vida em 2004, ela estava na Colômbia dando conferência e baile em Gabriel Garcia Márquez pelo seu apoio a Fidel Castro, uma treta político-literária que causou o maior fuzuê, na época. Sontag era, antes de mais nada, uma espevitada, e assim se manteve até o fim. Ela prestava atenção a tudo, e todo mundo prestou atenção ao que ela estava dizendo e fazendo, durante quase meio século.
Mas nada disso é spoiler.
Moser: “As pessoas têm um estereótipo limitado de Sontag. Havia muita coisa escrita sobre ela, muita fofoca, muitas coisas que no início a gente acredita, mas o importante pra mim é ir além (...), é entender a diferença entre a realidade e a realidade representada, entre a pessoa e a imagem da pessoa, entre a coisa em si e como ela é descrita com a linguagem (que, aliás, é uma coisa superclariciana [nota 1]), porque essas são questões muito antigas e muito relevantes”.
Em Sontag: her life and work é retratada não apenas a persona Sontag, que é como a própria gostaria de ser vista, mas a pessoa, com suas contradições políticas, literárias, afetivas. O tom da biografia, de um entusiasmo não condescendente, faz com que Susan, a pessoa disruptiva e muitas vezes desagradável, seja apresentada sem julgamento moral, numa abordagem que nem é derrogatória, nem protetiva; e faz com que Sontag, a intelectual poderosa, tantas vezes brilhante (mas nem sempre), seja retratada sem mistificação, com suas inseguranças e limitações.
Para essa, que é a primeira biografia autorizada da escritora, Moser teve acesso exclusivo a cartas, e-mails, rascunhos e notas inéditas, no arquivo oficial da autora, sediado na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Além disso, entrevistou centenas de pessoas no mundo todo, muitas delas falando pela primeira vez – inclusive Annie Leibovitz, até então reticente em falar da sua vida privada e de seu relacionamento com Susan (e com Sontag).
O livro fala abertamente dos casos extraconjugais, das ligações de Sontag com um montão de gente poderosa e da relação quase abusiva dela com Leibovitz (além de outras facetas menos gloriosas da vida da escritora). Mas o ponto mais polêmico revelado pela nova biografia diz respeito não a Sontag, e, sim, ao seu ex-marido, Philip Rieff, com quem ela teve seu único filho, o também escritor David Rieff. Com base nos arquivos e nas entrevistas, Moser chega à conclusão de que Sontag é a real autora de Freud: the mind of the moralist, livro central de Philip Rieff, publicado em 1959. A informação é escandalosa, pero no mucho. A apropriação do trabalho de esposas por parte de seus maridos escritores famosos é uma constante na história da literatura ocidental. Com sarcasmo, poderíamos até dizer que este seria um subgênero da literatura e da produção científica – de Dostoiévski a Einstein, passando por Fitzgerald, Tolstói, Nabokov, Brecht e muitos outros, também acusados de prática semelhante e cujas reputações saíram ilesas.
A contribuição de uma biografia sobre um ator social do porte de Susan Sontag não pode depender da quantidade de exposição da sua vida privada. O valor de uma biografia está na capacidade do biógrafo de produzir uma análise crítica, ao colocar a obra do biografado em contexto (ou em confronto) com os acontecimentos sociais e políticos, com a produção artística, acadêmica e literária do seu tempo, e isso Benjamin Moser conseguiu – ainda que, em alguns momentos, eu discorde da forma como ele entende e localiza a obra de Sontag. Outro ponto digno de nota é que Moser, sempre em diálogo com a produção dela, exercita críticas mais do que necessárias aos governos estadunidenses de Reagan a Trump, problematiza a posição escorregadia da autora em relação ao Estado de Israel e traz válidas contribuições ao debate político dos EUA, um ano antes das eleições presidenciais de lá. É uma biografia enorme (quase 800 páginas), mas uma delícia de ler.
“Susan Sontag” entrou na minha vida quando eu era bem novinha. Comecei a lê-la na época da faculdade, quando a gente tinha que ler alguns pós-modernos chatíssimos, e o que me atraiu na obra dela foi exatamente o fato de que eu conseguia entendê-la. A “minha” Susan, aquela por quem me apaixonei, foi a que borrou as fronteiras entre arte erudita e pop, me deixando em paz com meus próprios interesses intelectuais. Foi aquela que disse que “no lugar de hermenêutica, precisamos de uma erótica da arte”, em Contra a interpretação. Foi a autora que me abriu as portas para um pensamento crítico sobre corpo e sobre fotografia que, além de tudo, vinha de uma leitura prazerosa – coisa que nenhum dos autores da bibliografia androcêntrica e liberal do curso de Jornalismo me oferecia. No seu melhor, Sontag faz sentir que o leitor importa. Além disso, ela se engajou de verdade contra a Guerra da Bósnia, nos anos 1990, e foi a autora que publicou, apenas três dias depois do 11 de Setembro, uma das análises mais corajosas dos ataques (para Sontag, os EUA, depois de anos bombardeando e empobrecendo países do Oriente Médio, teriam parcela de culpa pelos ataques às Torres Gêmeas).

Mas nem tudo são flores na minha relação com ela, óbvio. Uma vida, como uma obra, é cheia de contradições. E mesmo com essa nossa relação “conturbada”, tenho lido, relido e usado Sontag como referencial para meu trabalho ao redor da fotografia há trocentos anos. Mas e para um biógrafo? Como fazer para não odiar seu objeto de pesquisa, nem se deixar seduzir por ele? A própria Sontag dá a dica sobre uma possível direção, em Sob o signo de Saturno, ensaio-retrato de 1978 dedicado a Walter Benjamin: “Não podemos usar a vida de uma pessoa para interpretar o trabalho. Mas podemos usar o trabalho para interpretar uma vida”. Será?
“Eu estava relendo Victor Hugo ultimamente. Ele escreveu um monte de coisas idiotas, mas por aí ele chegou à grandeza da obra dele. Não foi só pela perfeição. Na literatura, eu acho que isso não existe. Literatura é sempre uma nova reinvenção e ver como isso acontece me fascina”, disse Moser na entrevista. “Uma grande escritora não é uma escritora que nunca erra.”
III. SUSAN OU SONTAG
Saí da sessão de Os mortos não morrem, a produção mais recente de Jim Jarmusch, com um gosto estranho na boca – aquela sensação de que você acabou de provar uma comida que podia ter sido deliciosa, mas que tinha sal demais. Rápido, entendi: o que podia ter sido um filme genial e engraçadíssimo sobre justiça climática, era apenas mais um exercício de crítica ao consumo. A conclusão de Jarmusch (atenção para o spoiler) é que o mundo vai acabar porque as pessoas consomem demais. Num tom moralista, o diretor responsabiliza as pessoas e seu vício em wi-fi ou café pela hecatombe climática – e não as grandes corporações que exploram as pessoas e destroem o planeta em escala global. Alguns textos de Sontag me dão uma sensação semelhante de anticlímax. Se ela foi inspiradora em filosofia e estética, por exemplo, ela deixa a desejar em dois temas aos quais ela dedicou atenção particular: comunismo e feminismo.
Em 2016, no artigo Dietrich, Riefenstahl, Arbus, o pesquisador e professor da Universidade de Hartford, Jörg Colberg, escreveu que “biografias podem oferecer um insight verdadeiro sobre esses artistas apenas se o leitor fizer um trabalho de aprofundamento, depois de lê-las”. Algumas contradições internas de Sontag se refletem nos seus textos políticos, e exigem uma nova aproximação desses escritos (“um trabalho de aprofundamento”, como diz Colberg), que navegue fora da mistificação da pessoa da autora.
Ainda que a própria Sontag se reconhecesse, até os anos 1970, como socialista – “Foi o capítulo no qual Fantine (em Os miseráveis, de Victor Hugo) é obrigada a vender seu cabelo que fez de mim uma socialista” [nota 2] –, e descrevesse a si própria como “intelectual radical”, essa não é a leitura que faço dos seus escritos. O filósofo alemão Ernst Bloch, em O princípio esperança (Das prinzip hoffnung, 1954), vai dizer que “a verdadeira gênesis não está no começo e, sim, no fim, e ela só começa quando a sociedade cria uma existência radical. Isso significa se ocupar da raiz das coisas” (tradução minha). Sontag, cujo foco crítico foi muitas vezes apenas o consumismo e/ou os costumes burgueses, abriu mão de interpretações verdadeiramente radicais no sentido blochiano – de que radical é aquele ou aquela que produz um entendimento de mundo que não confunde o sintoma (consumismo) com a doença (o modo de produção capitalista). Essa era a prática de muitos outros dos intelectuais ligados à new left estadunidense que tinham, quando tinham, uma análise de poder bem fácil de desmontar.
Outra manifestação da não radicalidade de Sontag são as análises superficiais que ela apresenta sobre a Revolução Cubana e a Guerra do Vietnã. Sontag, usando uma medida eurocêntrica e elitista para descrever essas revoluções, infantiliza e praticamente nega agência aos sujeitos cubanos e vietnamitas nas suas respectivas construções de mundo (“Cubanos não leem”, ela anotou no seu diário, com certo desdém, depois da sua primeira viagem à ilha, em 1960). No ensaio sobre Cuba, ela chega a dizer que nossos reais inimigos são os “burocratas sem coração”, numa descrição ultraingênua da realidade. Para Sontag, assim como para muitos intelectuais da nova esquerda da época, parece que a sociedade vivia num vácuo e que seu consumismo ou a burocracia eram mais uma falha de caráter, do que um efeito das relações sociais e produtivas. Não deve ser à toa que nos artigos que ela escreveu sobre os experimentos comunistas em Cuba e no Vietnã, a palavra comunista aparece 23 vezes, mas a palavra capitalismo, apenas cinco.
A inconsistência das posições políticas de Sontag se refletem em algumas análises incompletas que ela publicou, e podem ser conectadas à sua falta de práxis, até os anos 1990. Não por acaso, teóricos marxistas como Marcuse andavam de cabelo em pé com o idealismo e abstração das análises de Sontag, revela Moser [nota 3]. Essa falta de envolvimento direto nos movimentos políticos se apresenta também na relação esquisita que ela tinha com o feminismo e com as feministas (e com algumas mulheres da sua vida) – e deixa escapar traços de elitismo.
Com a biografia, aprendemos que a mesma escritora que borrou a linha entre “alta” cultura e “baixa “cultura foi a mesma que, muitas vezes, se comportou de forma abusiva, humilhando as pessoas ao seu redor que não atingiam seus critérios de erudição, especialmente as mulheres. “Susan era uma elitista”, diz a escritora Sigrid Nunez [nota 4]. Esse tratamento se estendia até mesmo à sua última e mais longeva companheira, Annie Leibovitz, de quem Sontag fazia chacota e corrigia publicamente pela alegada pouca erudição.
Antes, numa passagem preciosa do livro, Moser ilustra com refinamento (e um monte de referenciais bibliográficos) o confronto público entre a poeta, ensaísta e feminista Adrienne Rich e Sontag. No ensaio Fascinante fascismo, de 1974, Sontag atribui o revival da cineasta nazista Leni Riefenstahl ao movimento feminista que teria, segundo ela, dificuldade em abrir mão “da única mulher cineasta que todo mundo reconhece como excelente”. Rich responde dizendo que foram os cinéfilos, não as feministas, que ressuscitaram Riefenstahl (isso sem contar que nem de longe Riefenstahl era a única cineasta excelente do mundo). Moser apoia e complementa a crítica de Rich, alegando que Sontag fez sua análise sem oferecer nenhuma evidência [nota 5] – numa espécie de ato falho que fala mais sobre a própria opinião dela das feministas, do que sobre a relação destas com Riefenstahl. O feminismo liberal de Sontag fica ainda mais evidente no fim da sua vida. Em 1999, por exemplo, ela publica, junto com Leibovitz, o livro de fotografias Women, que mistura fotos de trabalhadoras precarizadas do sul global empobrecido, com retratos de algumas das mulheres responsáveis por causar esse empobrecimento, tipo Hillary Clinton e a executiva bilionária Sheryl Sandberg – mas isso, claro, não é problematizado no fotolivro.
Em dois pontos eu discordo de Moser, na forma como ele contextualiza esses acontecimentos, na biografia. O primeiro diz respeito à análise que ele faz da relação de Sontag com o comunismo. Não somente ele não diferencia o conceito do socialismo científico dos experimentos comunistas (que ele chama de “comunismo real” [nota 6]), como também se alinha à ideia vendida pela própria Sontag, de que ela seria uma escritora radical. Exemplos disso são quando ele fala sobre “o radicalismo dos textos políticos” [nota 7] de Sontag ou quando descreve a mudança de papel que ela passa a desempenhar nos anos 1980, ao se tornar “a voz da consciência liberal – não mais radical”. Mas Sontag, apesar de rebelde, nunca foi radical – e nos anos 1980, ela apenas se alinha definitivamente a um liberalismo do qual ela, epistemologicamente, já era próxima. A parte interessante trazida por Moser é que ele identifica essa transição no fortalecimento da amizade de Sontag com o poeta Joseph Brodsky, para quem “o maior inimigo do homem não é o comunismo, nem o socialismo, nem o capitalismo, é a vulgaridade do coração humano, da imaginação humana” (me poupe, Brodsky). Em 1982, Sontag chegou a fazer um discurso em que declarava que comunismo e fascismo eram a mesma coisa (recebendo, na época, duras críticas de intelectuais como Noam Chomsky e Edward Said).
O segundo tem a ver com a análise da relação de Sontag com feminismo. Para Moser, Sontag nunca publicou em livro seus ensaios sobre feminismo porque teria previsto o declínio do movimento, o qual ele atribui às vitórias alcançadas pelas feministas até os anos 1970. [nota 8] Mas se movimento feminista cresceu ao mesmo tempo que, e dentro de, lutas populares ao redor do mundo; o seu declínio, portanto, não tem nada a ver com vitórias e “não pode ser separado do declínio da luta de classe em geral, que acontece a partir da segunda metade dos anos 1970”, com os mandatos antifeministas e neoliberais de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, como aponta a pesquisadora e jornalista inglesa Judith Orr, no livro Marxism & women’s liberation (Bookmarks, 2015).
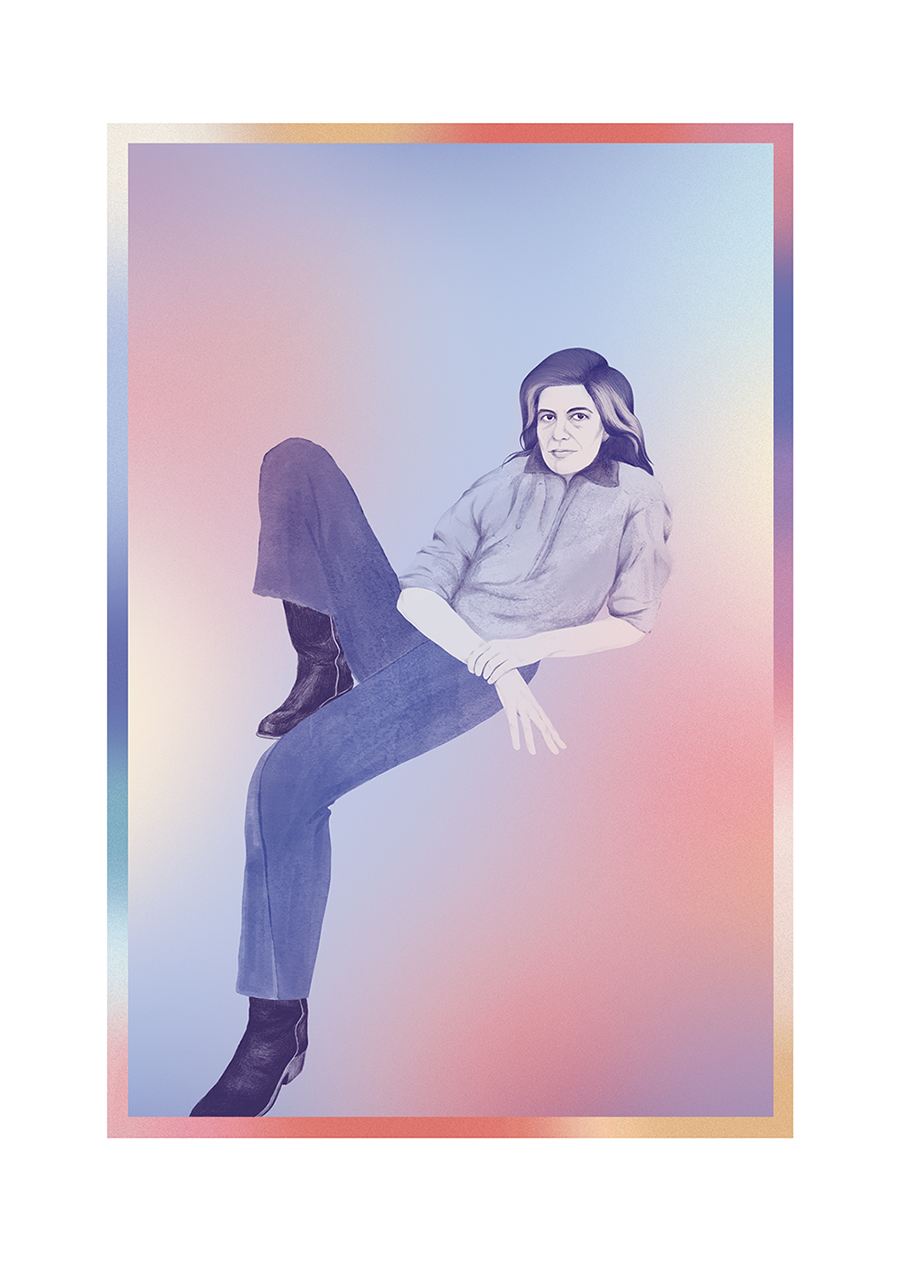 Meu incômodo, no entanto, tem mais a ver com a própria Sontag, do que com a biografia. Por outro lado, “assumir que aqueles que foram extraordinários na sua arte sejam santos na sua vida, pensar que eles queriam ser santos ou equivaliam às nossas ideias de santidade – isso é absurdo. Certamente existem coisas sobre Marlene Dietrich ou Diane Arbus que eu preferia não ficar sabendo”, diz Jörg Colberg, no artigo citado anteriormente. Nesse sentido, é preciso levar em consideração, por exemplo, a socialização de Sontag e o que essa socialização também pode nos dizer sobre as fendas na construção do seu pensamento. Paulo Freire, no texto Princípios do trabalho popular (em Trabalho de base, Expressão Popular, 2012), diz: “A sociedade burguesa em que me constitui como intelectual não me poderia ter feito diferente. Ou a gente é humilde para aceitar uma verdade histórica que é nosso limite histórico, ou se suicida”. Sontag, não podemos esquecer, foi socializada dentro da moral doméstica e suburbana, racista, homofóbica, anticomunista e misógina nos anos 1930 e 1940, nos EUA. Isso me ajuda a entender e delinear os limites da sua produção, como também me ajuda a ver onde ela ainda brilha como pensadora.
Meu incômodo, no entanto, tem mais a ver com a própria Sontag, do que com a biografia. Por outro lado, “assumir que aqueles que foram extraordinários na sua arte sejam santos na sua vida, pensar que eles queriam ser santos ou equivaliam às nossas ideias de santidade – isso é absurdo. Certamente existem coisas sobre Marlene Dietrich ou Diane Arbus que eu preferia não ficar sabendo”, diz Jörg Colberg, no artigo citado anteriormente. Nesse sentido, é preciso levar em consideração, por exemplo, a socialização de Sontag e o que essa socialização também pode nos dizer sobre as fendas na construção do seu pensamento. Paulo Freire, no texto Princípios do trabalho popular (em Trabalho de base, Expressão Popular, 2012), diz: “A sociedade burguesa em que me constitui como intelectual não me poderia ter feito diferente. Ou a gente é humilde para aceitar uma verdade histórica que é nosso limite histórico, ou se suicida”. Sontag, não podemos esquecer, foi socializada dentro da moral doméstica e suburbana, racista, homofóbica, anticomunista e misógina nos anos 1930 e 1940, nos EUA. Isso me ajuda a entender e delinear os limites da sua produção, como também me ajuda a ver onde ela ainda brilha como pensadora.
Na biografia, o editor Robert Silvers descreve Sontag da seguinte forma: “Ela não tinha uma visão consistente sobre nada, mas estava constantemente reinventando a si própria”. Ao ler isso, me lembrei na hora de Madonna. A rainha do pop, que tantas vezes errou, nunca foi superada enquanto, bueno, rainha do pop, também porque está sempre se reinventando, como Sontag. As duas compartilham mais coisas: a dedicação inabalável ao seu ofício e ao tempo presente. Se Sontag foi superada em alguns dos campos teóricos nos quais atuava, ela ainda é lida porque, para ela, o tempo presente é a utopia.
IV. MÍSTICA x MITO
Em Future, uma das canções mais bonitas de Madame X (esse discão que Madonna lançou em 2019), a rainha do pop diz: I see the signs / Just free your mind / Welcome to the future: it’s a culture ride – eu vejo os sinais / apenas liberte sua mente / bem-vindo ao futuro: ele é uma viagem cultural.
Future é uma conversa sobre utopia e, consequentemente, imaginação. No senso comum, a palavra “utopia” (“não lugar”, em grego) é entendida como algo que existe como abstração, impossível de alcançar ou de realizar, de tão perfeito. Para Bloch, no entanto, utopia era “finalmente se sentir em casa”. Aprofundando a crítica de Marx e Engels ao socialismo utópico, Bloch cria o termo “utopia concreta”, para falar de práxis, do processo de criação desse lugar. A palavra utopia e seu uso guardam, portanto, uma complexidade maior do que o senso comum lhe oferece, complexidade essa que tem a ver não somente com nossa capacidade cognitiva, mas também com desejo político. A pesquisadora ecossocialista Sabrina Fernandes vai dizer que “a função da utopia é instigar nosso imaginário e inspirar filosofia política pra pensar não somente os detalhes dessa utopia (desse lugar), mas como chegar até ela”. Utopia é o estágio prévio para a transformação da realidade – é como um projeto visualiza a si próprio.
Sem a utopia (sem a imaginação), o pensamento, refém da realidade, não prospera. Em 2015, a professora da Brown University, Ariella Azoulay, publicou Civil imagination (Verso Books), no qual diz que imaginação política “é a habilidade de imaginar um jeito de existir que desvia significantemente do modo como as coisas estão agora. (...) é um jeito de criar imagens baseando-se em uma coisa que ainda não está disponível pros nossos sentidos”. E ver, ou ainda antever, é aquilo que pode inspirar a ação transformadora, que interfira e mude a realidade.
Como descreve Moser, “ver corretamente” é a parte central do projeto existencial, moral e artístico de Sontag. No ensaio Contra a interpretação, de 1964 [nota 9], ela insiste que precisamos aprender a “ver mais, ouvir mais, sentir mais” (os itálicos são dela mesma). Mas ver mais não tem absolutamente nenhuma relação com fotografar mais. Nesse sentido, em Sobre fotografia ela critica o fato de que nossa relação com o mundo tenha passado a ser mediada não pela capacidade de ver as coisas, mas por fotografias, e arrasa ao dizer que fotografar “é essencialmente um auto de não-intervenção”.
Sobre fotografia não poderia dialogar mais com 2019. Num editorial publicado no dia 23 de agosto, o jornal britânico Morning star comenta os incêndios na Amazônia, dizendo que o desmatamento está sendo impulsionado pela indústria de agronegócio, mas que “isso não quer dizer que o presidente francês Macron ou o primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar devam ser parabenizados pelo seu pânico tardio com as imagens da floresta tropical brasileira em chamas”. Para além da afiada análise geopolítica, outra coisa me chamou a atenção. A frase “pânico tardio com as imagens” resume, de forma sucinta, que o clamor internacional é resultado não de saber que povos da floresta, fauna e flora estão “em chamas”, mas sim que este clamor vem do fato de que apenas ao ver imagens da Amazônia pegando fogo, é que a ilusão liberal de que tudo vai bem cai por terra. Estamos atrasados, diz o editorial. Então por que o choque? Por causa das imagens?
O jornal toca no sistema nervoso da política internacional, e da análise de Sontag, ao dizer que o pânico vem do ver-imagens. Sônia Guajajara e Ailton Krenak são apenas dois entre vários ativistas indígenas que, há anos, vêm alertando, com dados concretos mais sua própria vivência, sobre a situação dos povos originários e da Amazônia, e sobre a ação violenta do agronegócio na região. Mas foi necessário a postagem de uma foto no Instagram de Leonardo DiCaprio para que o incêndio pudesse ser visto pela grande mídia internacional e se tornasse debate nela. A Amazônia precisou queimar durante 16 dias, e a fumaça precisou ser vista em São Paulo, centro econômico do Brasil, para que os brasileiros se escandalizassem. A Amazônia, essa coisa concreta, precisou virar abstração nos centros do capitalismo, para que importasse. Será que a Floresta da Tijuca, logo ali, visível, no cartão-postal oficial do Brazil (assim, com z), também teria queimado por 16 dias?
É impossível deixar de juntar a questão da imagem com a questão do poder, porque o direito de olhar e a escolha em ser ou não olhado, não são qualidades intrínsecas da fotografia – são antes reflexo das relações hegemônicas na sociedade. Entre 1964 e 2003, Sontag faz diversas tentativas de compreender nossa relação com ver e ser-visto e se, analisadas separadamente, notamos suas incompletudes, juntas elas evoluem, se tornam complementares, até chegar em Diante da dor dos outros – seu livro mais bonito. Em 1964, com Contra a interpretação, ela pede que vejamos mais. No mesmo ano, com Notas sobre o Camp, ela fala sobre visibilidade num texto que se tornou fundamental para a comunidade queer da época. Para que sexualidades dissidentes pudessem ser visíveis, Sontag diz que seria preciso de uma “revolução do olhar” [nota 10], e esta poderia se dar quando olharmos o mundo “enquanto fenômeno estético”. Mas como Moser muito bem aponta, numa crítica que também se aplica ao exemplo da Amazônia em 2019, “ver o mundo como fenômeno estético é excluir o impacto da política, da ideologia e da ação humana”[nota 11] sobre ele (eu ainda incluiria, nessa lista, o impacto material da economia). Em 1977, no livro Sobre fotografia, Sontag diz que “fotografia é um instrumento de poder”, que nos domina porque “oferece, a um só tempo, uma relação de especialista com o mundo e uma promíscua aceitação do mundo”. Mas em todos esses textos a abordagem sobre relações de poder sobre o que (não) pode ser visto continua incompleta.
É em Diante da dor dos outros, seu último livro publicado em vida, que a autora consegue fazer uma síntese bem-sucedida de todas essas tentativas anteriores. Se fotografias são “um ato de não intervenção”, olhar para elas também é. Fotografias de tragédias nos convidam “a sentir que os sofrimentos e os infortúnios são demasiado vastos, demasiado irrevogáveis, demasiado épicos para serem alterados, em alguma medida significativa, por qualquer intervenção política local. Com um tema concebido em tal escala, a compaixão pode apenas debater-se no vazio — e tornar-se abstrata. Mas toda política, como toda história, é concreta”. Com a questão do poder finalmente abordada, em Diante... Sontag vai fazer suas últimas e melhores contribuições sobre “ver corretamente”: “(...) as normas reguladoras do que deve e do que não deve ser visto ainda estão sendo elaboradas. Os produtores de programas jornalísticos na tevê e os editores de fotografia das revistas e dos jornais tomam, todos os dias, decisões que consolidam o instável consenso acerca dos limites do conhecimento do público”. Sontag vai dizer, corretamente, que essas decisões editoriais terão “sempre um critério repressivo”. O não mostrar uma coisa em detrimento de outras é, segundo a autora, uma “praxe jornalística” herdeira da colonização e a essa seletividade ela dá o nome de “poder dúplice” da fotografia.
Se em Sobre fotografia “foi a falta de uma conclusão final que fez o livro tão influente” (Moser), Diante da dor dos outros, publicado quase 30 anos depois, é justamente a conclusão de que é preciso muito mais do que fotografias para ver os outros, e mudar o mundo, que torna o livro valioso. A quantidade de imagens à qual temos acesso pode até nos escandalizar, mas não nos leva à ação transformadora – nos anestesia, como diz Sontag. E se não estamos interferindo no presente, não estamos contribuindo para a construção da utopia.
Para Sontag, o presente é o seu projeto. Moser: “Susan Sontag foi fascinante porque conseguiu estar presente em cada evento cultural, político e sexual das últimas décadas. Ela estava lá quando da Revolução Cubana; em Berlim, uma noite, ela sai do cinema, sente o cheiro do gás lacrimogêneo e fica sabendo que o Muro caiu. Ele esteve no Vietnã e em Sarajevo. Ela se fez presente em todas as mudanças culturais, é a pessoa mais interessante com quem eu já me deparei”.
Em Future, Madonna faz a assunção de que o caminho para o futuro é pavimentado pela cultura. Já Sontag falava pouco de futuro, mas talvez ela tivesse gostado desse verso, pois ele é quase uma resposta à pergunta que ela faz em Reborn, de 1957: “Por que escrever é importante?”. Muitos filósofos e estetas já deram suas contribuições. A resposta que eu mais gosto é do MST, para o qual a mística, algo muito diferente da mistificação – e que pode ser leitura de poema, cantoria, rezas ou “um olhar contemplativo à beira de um rio” –, é “a alma do sujeito coletivo” (no já citado Trabalho de base, p. 90). A cultura, a arte, andam dentro do processo de emancipação dos povos. Usadas como veículo educativo, elas podem ajudar a desmantelar velhos mitos e construir novos parâmetros existenciais e materiais. Aliás, um dos maiores méritos dessa biografia é conseguir, não pela escandalização seus defeitos, mas pela análise crítica da sua obra ao longo da sua vida, desmistificar Susan Sontag. Até porque, como vemos, na vida real não existe nada mais inútil que um mito.
NOTAS
[nota 1]. Benjamin Moser é, também, biógrafo de Clarice Lispector. Ver MOSER, B. Clarice, São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
[nota 2]. MOSER, B. Sontag: her life and work. Nova York: Ecco, 2019. Página 41.
[nota 3]. Moser, Sontag: her life and work, p. 141.
[nota 4]. Moser, Sontag, p. 408.
[nota 5]. Moser, Sontag, p. 398.
[nota 6]. Moser, Sontag, p. 427.
[nota 7]. Moser, Sontag, p. 335.
[nota 8]. Moser, Sontag, p. 391.
[nota 9]. O livro Contra a interpretação é de 1966, mas o ensaio homônimo é de 1964 – assim como Notas sobre o Camp.
[nota 10]. Moser, Sontag, p. 232.
[nota 11]. Moser, Sontag, p. 197.