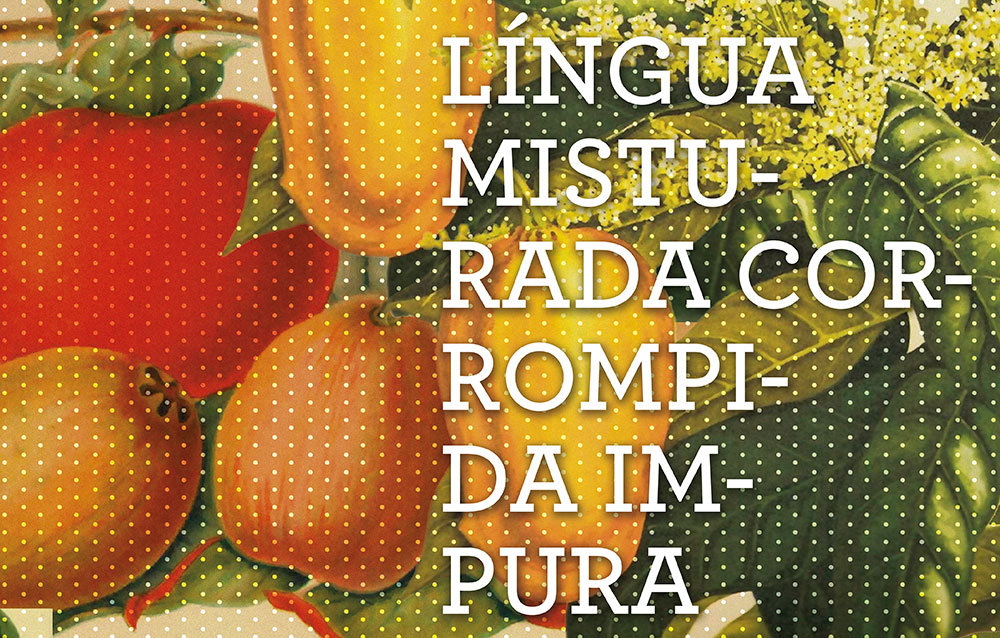
A linguagem é a marca registrada, o selo de exclusividade, o traço distintivo da espécie humana. Outros animais também desenvolveram sistemas complexos de comunicação, como as abelhas, os pássaros, os golfinhos e os macacos, mas nenhum deles é tão sofisticado, maleável, flexível e poderoso quanto a linguagem humana. Nenhum deles permite a seus usuários fazer referência não só ao aqui-agora, mas também ao que já foi, ao que supostamente virá a ser e ao que nunca foi nem será. Além disso, somente a linguagem humana permite a abstração, a simbolização mais radical possível, como a criação de mundos imaginários e de entidades transcendentais, tão poderosamente criadas pela linguagem que conseguem levar tantas pessoas a acreditar que tais entidades existem de fato, fora da imaginação humana.
Não admira, portanto, que, desde os primórdios da civilização, os seres humanos, já fixados em ambientes urbanos e podendo dedicar seu tempo a outros afazeres além da busca de alimento e da defesa de suas vidas, tenham se dedicado a refletir sobre essa capacidade misteriosa que permite a alguém produzir determinados sons pela boca e ser compreendido por outra pessoa, que recebe e processa esses sons atribuindo-lhes sentido. Assim, a investigação em torno da linguagem é tão antiga quanto a civilização e, sem dúvida, teve papel fundamental na própria estruturação da vida em sociedade, vida cada vez mais complexa à medida que, graças também à linguagem, as façanhas tecnológicas e o acúmulo de conhecimento iam avançando em progressão geométrica.
Na vida das pessoas como indivíduos e também das coletividades, o poder atribuído à palavra é um fenômeno cultural encontrado em todas as sociedades humanas. A palavra é criadora: na tradição judaico-cristã, a divindade não precisou fazer nenhum outro gesto para criar o mundo a não ser falar, dizer à luz que aparecesse, “e a luz se fez”. Em diversas outras tradições religiosas a palavra geradora de mundos e de vidas também existe. Todas as culturas apresentam igualmente tabus linguísticos: termos ou expressões que não podem ser pronunciados sob pena de invocar sobre as pessoas algum mal, alguma doença ou mesmo a morte, ou por conterem referências aos excrementos ou ao sexo. O principal recurso para contornar a palavra-tabu é o emprego de eufemismo, isto é, de termos que atenuam ou disfarçam a forma e o conteúdo originais. No Brasil, por exemplo, dizemos diacho em lugar de diabo; disgrama em lugar de desgraça; azeite em lugar de azar; cacilda em lugar de cacete; poxa em lugar de porra e assim por diante.
O vínculo entre palavra e forças sobrenaturais sempre foi tão poderoso, que está na própria origem dos estudos linguísticos. Os mais sofisticados estudos gramaticais da antiguidade foram realizados na Índia a partir do século VIII a.C. e atingiram seu ápice no século IV a.C. com o famoso gramático Panini. O objetivo desses estudos era permitir a leitura correta, invariável e impecável da extensa literatura religiosa hindu, os Vedas, escritos provavelmente no século XI a.C, numa língua, o sânscrito, que já tinha passado por diversas transformações e, por isso, precisava ser explicada em todos os seus pormenores fonéticos, morfológicos, sintáticos e semânticos. Os conhecimentos sagrados transmitidos pelos Vedas só poderiam ser adquiridos se a pessoa fosse capaz de pronunciá-los em voz alta, prática muito comum na antiguidade, exatamente como tinham sido compostos ou “revelados” muitos séculos antes. A mesma preocupação religiosa orientou os estudos gramaticais entre judeus e muçulmanos: gerações de eruditos se dedicaram a definir a leitura correta dos textos sagrados e a explicar seu significado oficial, canônico, para permitir a configuração de uma fé sem desvios de interpretação, ou seja, uma fé ortodoxa (palavra grega que significa “doutrina correta”), protegida das heresias (palavra grega que significa “escolha”). A opinião individual, a escolha de outra interpretação, sempre foi o grande temor das religiões institucionalizadas.
No mundo cristão, a Igreja transformou a tradução da Bíblia para o latim, a chamada Vulgata, concluída por são Jerônimo em 405, em texto oficial e proibiu qualquer outra tradução para qualquer outra língua. A punição para quem se atrevesse a traduzir a Bíblia era a morte na fogueira, e os primeiros tradutores protestantes conheceram esse suplício: o tcheco Jan Hus (1415), o inglês William Tyndale (1536) e o francês Étienne Dolet (1546), entre outros. No mundo que aderiu à Reforma Protestante, a Bíblia logo foi traduzida para diversas línguas (incluindo o português, por João Ferreira de Almeida, protestante), mas no catolicismo o abandono da pregação em latim só se deu na década de 1960, com o Concílio Vaticano II. Era preciso acreditar na palavra sem precisar entender o que dizia.
O controle rígido da doutrina por parte da Igreja romana é um dos principais exemplos da ideologia linguística que visa reprimir as consciências por meio da linguagem regulada por cânones e por meio de uma língua específica. Esse instrumento ideológico também será empregado pelas potências colonizadoras da Era Moderna, a partir do século XV. O espanhol Antonio de Nebrija, autor da primeira gramática de uma língua moderna, o castelhano, publicada em 1492, escreveu sem rodeios: “Sempre foi a língua companheira do império”. E conclamava a rainha Isabel I a fazer todo o possível para impor sua língua aos povos “bárbaros” recém-conquistados. Por sua vez, proclamando a independência do português frente ao latim, o autor da primeira gramática da língua portuguesa, Fernão de Oliveira, escreveu, em 1536: “tornemos sobre nós agora que é tempo e somos senhores, porque melhor é que ensinemos a Guiné que sejamos ensinados de Roma”. A língua, junto com a fé cristã, vai ser uma poderosa ferramenta de conquista e de sujeição de povos e culturas.
Todas essas complexas relações entre língua e poder se mantêm vivas e fortes. Como qualquer formação ideológica, a ideologia linguística que visa à dominação de uns poucos sobre todos os demais está profundamente impregnada na cultura dita ocidental e, no caso do Brasil, de maneira ainda mais perniciosa, uma vez que nossa sociedade é o resultado de um longo e doloroso processo de colonização, exploração, espoliação, escravização e genocídio puro e simples. Assim, nossa cultura linguística é marcada por sentimentos de inferioridade com relação aos portugueses (supostos “donos da língua” e, por conseguinte, únicos que a falam “corretamente”), de depreciação das características brasileiras de falar a língua (sempre vistas como “erros” a serem extirpados), de preconceito explícito para com as variedades da ampla maioria da população, pouco letrada e mestiça, e desprezo absoluto pelas centenas de línguas indígenas faladas em nosso território. Um povo surgido de uma “mistura de raças” só poderia mesmo falar uma língua “misturada”, “corrompida” e “impura”.
A esse respeito, vale observar o uso que se faz no senso comum dos termos língua e dialeto. Embora o termo dialeto pertença ao vocabulário técnico da linguística, fora dos meios científicos ele quase sempre é usado, erradamente, com o sentido de algo inferior, imperfeito ou menos importante do que uma “língua”. Um exemplo da sobrevivência dessas ideias sobre línguas apareceu numa entrevista à revista Nossa História (outubro de 2004), em que o cineasta moçambicano Victor Lopes divulgava seu documentário Língua: Vidas em português. Tratando do uso da língua nas ex-colônias portuguesas da África, ele assim falou: “A língua portuguesa serviu como um elemento unificador da comunicação em territórios nos quais se falavam, e ainda se falam, dezenas de dialetos maternos das diversas tribos que a colonização atingiu. Assim, em Moçambique, onde se falam hoje cerca de 35 dialetos locais, o português é língua materna de 3% da população, mas é utilizado por cerca de 40% dos moçambicanos”. Decerto sem se dar conta disso, o cineasta usou os termos língua e dialeto exatamente como se fazia no período colonial: língua é apenas o português, enquanto nos territórios africanos o que se fala são dialetos (como assinalei no texto da entrevista). Ora, na verdade, em Moçambique são faladas algumas dezenas de línguas de famílias linguísticas diferentes, cada uma com sua gramática específica, todas tão eficientes como instrumentos de interação social quanto o português ou qualquer outra língua europeia, ou qualquer outra língua do mundo, de fato. A ideia de “línguas primitivas” não tem nenhum argumento sério em que possa se sustentar, tanto quanto a ideia de “raças inferiores”, mas as duas foram instrumentos supostamente “científicos” amplamente empregados no auge do colonialismo para justificar a “missão civilizadora” dos brancos europeus no resto do mundo.
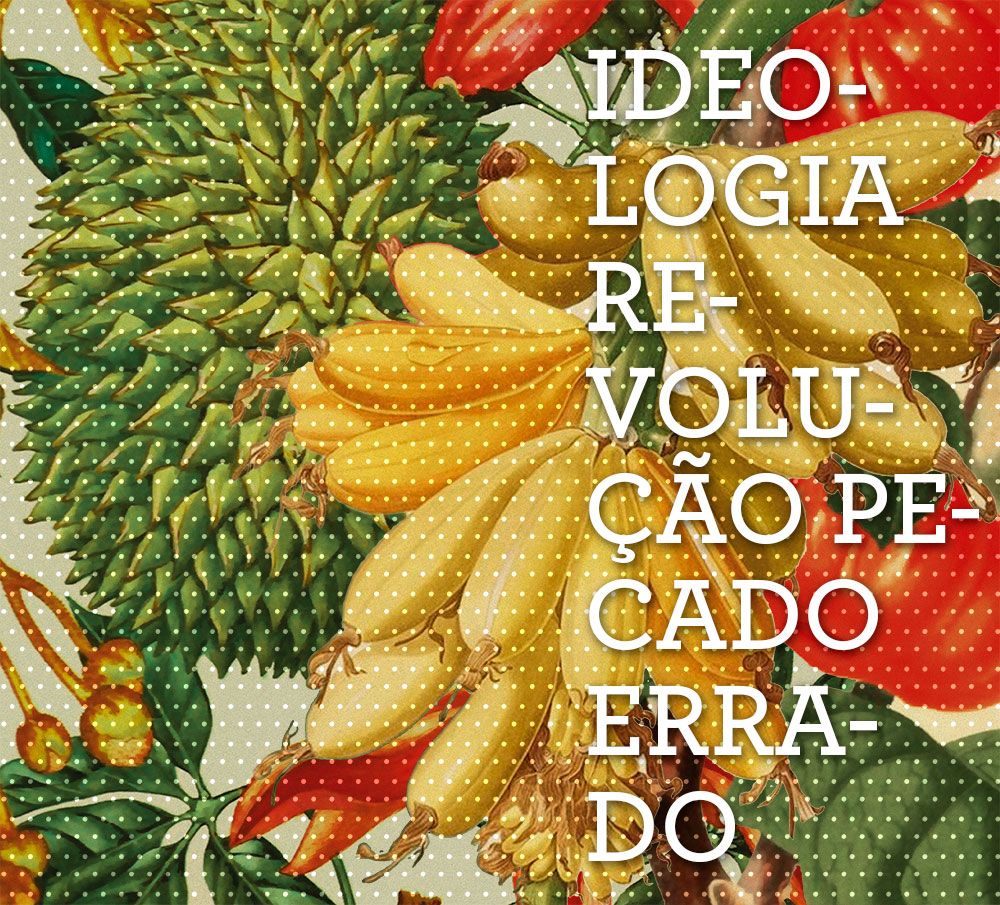
O poder da palavra também reside em seus efeitos de classificação. Na vida social, o ato de nomear um objeto, uma pessoa ou um evento muitas vezes resulta em definir o modo como esse objeto, essa pessoa ou esse evento vão ser avaliados. Além disso, dizer que determinada coisa “existe” pode ter o efeito de fazer essa coisa realmente vir a existir, ao menos como ideia ou como efeitos simbólicos. No mercado financeiro, por exemplo, tudo se faz por meio das palavras. Os títulos negociados na Bolsa de Valores não têm existência concreta, são mera abstração, dependem exclusivamente do que se diz ou do que se deixa de dizer sobre eles: basta lançar um boato sobre uma empresa, dizendo que ela está para falir, e o valor das ações despenca, mesmo que isso não corresponda à realidade. Uma ameaça qualquer, mesmo inexistente, pode ter consequências muito sérias se for repetida à exaustão com vistas precisamente a criar um ambiente de pânico e instabilidade. É a confirmação do teorema de Thomas: “se as pessoas definirem situações como reais, elas serão reais em suas consequências”, teorema que leva o nome de seu formulador, o sociólogo estadunidense William Isaac Thomas (1899-1977). E a propaganda política (tanto quanto a publicidade) se vale o tempo todo desse princípio.
Assim, o que alguns chamam de “invasão” (de terras, por exemplo) outros chamam de “ocupação” (de áreas improdutivas) – e se é “invasão”, então é perfeitamente legítimo que a polícia seja chamada para expulsar os “invasores”, ainda que a preço de vidas humanas. Onde alguns falam de “terrorismo” outros preferem falar de “revolução”. Para os fiéis de determinada religião, certos atos são “pecados”, enquanto para os de outra são perfeitamente justificados e bem-vindos. O que o governo estadunidense chamou de “Guerra do Iraque” muitos analistas classificam simplesmente de “invasão”, já que os iraquianos não fizeram nada contra os Estados Unidos – e as consequências estão aí, descontroladas e incontroláveis, como o surgimento da organização Estado Islâmico, fruto direto da política desastrosa das potências ocidentais.
Nos dias atuais, um aspecto muito importante da relação entre língua e poder se vincula às questões de gênero, às diferenças de status social, cultural, político e econômico que existem entre homens e mulheres. O próprio uso que acabo de fazer da palavra gênero já é uma importante conquista dos movimentos feministas e de outros setores da sociedade, que têm lutado para deixar clara a distinção entre o sexo, mero dado biológico, e o gênero, um construto social, cultural, político e ideológico, um artefato que pode ser moldado de acordo com os interesses individuais e coletivos, com as crenças e os valores vigentes em dado momento e em dada comunidade. Outra conquista importante também é a ampla difusão do conceito de orientação sexual, que reitera a desimportância relativa do sexo biológico diante das escolhas reais definidas pelo desejo dos indivíduos de se relacionar com outros indivíduos, tenham eles ou não o mesmo sexo biológico. A esse respeito, vale a pena fazer um breve percurso histórico.
Em grego, a palavra ánthropos, ánthropou era empregada para designar o ser humano em geral, enquanto áner, andrós designava o ser humano do sexo masculino e gyné, gynaikos, o ser humano do sexo feminino. Daí a especialidade médica chamada andrologia se ocupar dos homens, a ginecologia se ocupar das mulheres, e a antropologia estudar os seres humanos e sua cultura.
Em latim também existia homo, hominis (“ser humano”), uir, uiri (“homem”) e mulier, mulieris (“mulher”). Da raiz de uir é que provêm palavras como viril (“másculo”), virago (“mulher forte ou corajosa como um homem”), virtude (“força própria do homem”), com conotações marcadamente sexistas.
No inglês antigo, man se referia ao ser humano em geral; wer, ao do sexo masculino, e wif, ao do sexo feminino. A palavra wer remonta à mesma raiz indo-europeia do latim uir e está presente, por exemplo, em werewolf (“lobisomem”: wer + wolf, “lobo”). Do antigo wif, “mulher em geral”, provém wife (“esposa”) e, por menos que pareça, também woman (“mulher”: wifman > wimman > woman: wif, “do sexo feminino” + man, “ser humano”).
No entanto, e não por acaso, não demorou para que as palavras que designavam o ser humano em geral passassem a ser usadas para designar também o ser humano do sexo masculino. Observe-se que o latim uir não se transmitiu para as línguas românicas, nas quais tanto o ser humano em geral quanto o do sexo masculino são chamados pelos termos correspondentes ao nosso homem (home, hombre, homme, homo, òmine, uomo, ommo, omu, òme etc.).
Também em inglês o fenômeno se repetiu (e, de novo, não por mera coincidência): man passou a ser empregado para designar a espécie humana e também o ser do sexo masculino.
Uma vez que nas línguas se impregna a visão de mundo dominante entre seus falantes — e os falantes dominantes, na imensa maioria das sociedades humanas ao longo da história, sempre têm sido os homens, do sexo masculino —, não admira que na própria estrutura das línguas esteja registrada a assimetria vigente nas sociedades e nas culturas no que se refere à distribuição dos poderes simbólicos e das violências simbólicas destinados aos homens e às mulheres, isto é, não admira que a forma considerada não marcada, “neutra”, “normal”, “natural”, seja a forma masculina, que nem precisa de marcas morfológicas para se identificar. Num auditório ocupado por “mil espectadores”, pode haver somente homens ou homens e mulheres, mas num auditório ocupado por “mil espectadoras” só pode haver mulheres. Na cultura milenar da dominação masculina, é preciso identificar claramente a mulher, apontar para ela, assinalá-la tanto com estigmas sociais quanto com marcas linguísticas só para ela.
É importante, desde logo, evitar conclusões equivocadas como a de que “a língua é machista”. Não, a língua não é machista, porque “a língua”, como entidade autônoma supostamente dotada de vontade própria, não existe: o que existe são falantes da língua, seres culturais, sociais e políticos que determinam os destinos do idioma. E como os destinos do idioma, da cultura e da sociedade têm sido determinados desde a Pré-História pelos machos da espécie, não admira que as marcas desse predomínio masculino tenham sido incrustadas na gramática das línguas. E isso nada tem de “natural”.
No trecho de abertura de sua obra publicada em 1539 (Gramática da linguagem portuguesa), o erudito português João de Barros (1496-1570), ao definir o termo gramática, escreveu: “Gramática é vocábulo grego, quer dizer ciência de letras. E segundo a definição que lhe deram os gramáticos, é um modo certo e justo de falar e escrever, colhido do uso e autoridade dos barões doutos”.
O termo barões é forma variante antiga de varões, isto é, homens, do sexo masculino. Portanto, o “modo certo e justo de falar e escrever” só poderia ser encontrado na boca e na pena dos homens — até porque, naquela época, as mulheres eram em sua maioria analfabetas (e até hoje, no mundo inteiro, a maioria das pessoas iletradas é do sexo feminino: dois terços delas, segundo a Unesco). Além disso, não basta ser “barão”, era preciso ser “douto”, instruído, e é fácil imaginar o reduzidíssimo número de homens escolarizados que havia em Portugal no século XVI. Isso mostra que o “falar correto” e a “gramática” sempre estiveram intimamente relacionadas com a dominação masculina e, dentro dela, com uma parcela ínfima de homens letrados.
Desde a segunda metade do século XX, com as importantes vitórias dos movimentos feministas, muitas pessoas, em diferentes lugares do mundo, vêm explicitando e denunciando as marcas do sexismo sociocultural que se impregnaram na estrutura das línguas. Diversas formas de desmascarar a suposta “neutralidade” das marcas morfológicas masculinas têm sido propostas. Em inglês, por exemplo, a intensificação do uso do pronome they, que não indica o sexo do referente, da fórmula he or she e, na escrita, de s/he. Em sueco, o pronome hen, criado na década de 1970 e que também não indica o sexo do referente, foi incorporado ao dicionário produzido pela Academia Sueca, como forma de superar o binômio han (“ele”) e hon (“ela”).
No Brasil, muitas pessoas começaram a utilizar o sinal @ para evitar, ao menos na escrita, as marcas morfológicas mais comuns de gênero gramatical, -a e -o. Mais recente tem sido o uso de ‘x’ com a mesma finalidade, como em “xs professorxs e xs alunxs”.
Essas tentativas de denúncia e superação do sexismo incrustado na língua sofrem combate sistemático da parte de muitas pessoas em geral e especificamente de alguns linguistas.
Conforme analisa a sociolinguista inglesa Deborah Cameron, “a opinião de muitos linguistas era a de que reformar a língua sexista era um objetivo desnecessário, trivial, uma perda de tempo, já que a língua simplesmente reflete as condições sociais. Se as feministas se concentrassem em remover desigualdades sexuais mais fundamentais, a língua mudaria por conta própria, refletindo automaticamente a nova realidade não sexista”.
Apontando o equívoco epistemológico (característico de certas tendências dominantes da sociolinguística) de que “a língua reflete a sociedade”, Cameron enfatiza: “é preciso apontar que uma mudança na prática linguística não é apenas um reflexo de alguma mudança social mais fundamental: ela é, em si mesma, uma mudança social. Os antifeministas gostam de enfatizar que a eliminação dos pronomes genéricos masculinos não assegura salário igual. De fato, não assegura — mas quem disse que asseguraria? A eliminação dos pronomes genéricos masculinos elimina precisamente os pronomes genéricos masculinos. E, fazendo isso, ela muda o repertório de significados e escolhas sociais à disposição dos atores sociais”.
Essas palavras de Deborah Cameron (extraídas de seu livro Verbal hygiene, publicado em 1995 e inédito no Brasil) nos fazem lembrar um lema que aparecia no jornal Lampião, ancestral pioneiro da imprensa brasileira dedicada ao público LGBT, que, em plena ditadura militar, nos anos 1980, conclamava: “Não espere a revolução: tenha um orgasmo agora”. Isso porque uma certa cartilha marxista bastante tosca apregoava que era preciso resolver primeiro todas as diferenças sociais, derrubar a classe dominante e levar o proletariado ao poder para somente então começar a se preocupar com questões ecológicas, de igualdade entre os sexos, de combate ao racismo etc. E, claro, nessa velha cartilha a homossexualidade nem sequer aparecia, vista como uma “doença degenerada da burguesia”. Felizmente, esse pensamento distorcido já não encontra abrigo entre militantes de uma esquerda dialeticamente renovada.
Retomando à higiene verbal proposta por Cameron, a verdade é que o social é constitutivo do linguístico, assim como o linguístico é constitutivo do social — não existem “influências” da sociedade sobre a língua, nem tampouco a língua “reflete” a sociedade: as relações entre esses dois termos, língua e sociedade, são muitíssimo mais amplas, mais íntimas e mais complexas do que uma mera influência ou um mero reflexo.
Todo ser social dispõe da capacidade de agency — palavra usada na sociologia de língua inglesa para definir a capacidade que tem o indivíduo de agir independentemente das estruturas sociais e de fazer suas próprias e livres escolhas. Podemos traduzir agency por intervenção, lembrando que agency provém do mesmo verbo latino que nos deu agir e ação. Os membros da sociedade não vivem esmagados pelas ideologias dominantes nem pelas estruturas que se filiam a elas: sempre existem brechas e margens de manobra para burlar essas ideologias e estruturas. E as estruturas linguísticas também podem sofrer (e sofrem) intervenções conscientes. Basta começar a falar e a escrever presidenta, por exemplo.
Desde os primeiros dias do primeiro mandato de Dilma Rousseff, algumas pessoas têm reacendido uma falsa polêmica gramatical em torno do uso do substantivo feminino presidenta. A polêmica é falsa porque, sob o disfarce da gramática, o que está realmente em jogo é a reação de determinados setores da sociedade, do lado conservador do espectro ideológico, à ascensão ao cargo máximo do poder de uma mulher e, não só, de uma mulher vinculada a um projeto político que se identifica com as forças convencionalmente chamadas de esquerda.
Escrevi acima “lado conservador do espectro ideológico”, mas os acontecimentos mais recentes têm demonstrado, para o horrorizado espanto de muita gente no Brasil e no resto do mundo, que o golpe de Estado planejado contra um governo eleito democraticamente e sem nenhum crime que lhe seja imputável é movido pelo que existe de mais abjeto, perverso, corrupto e criminoso no meio político brasileiro. O fato é que não há uma força política coesa e coerente de direita no Brasil, um pensamento conservador equilibrado, com fundamentação teórica tradicional, que respeita as regras do jogo democrático, como em muitos outros países. O que existe é um conglomerado proteiforme de latifundiários escravocratas, invasores de terras alheias e encomendadores de assassinatos de lideranças camponesas; de exploradores imorais da fé religiosa da parcela mais humilde da população; de defensores da ditadura militar e da tortura como método de aniquilação de adversários; além de corruptos e corruptores de toda sorte, junto como homicidas e estupradores já devidamente inculpados.
No caso da palavra presidenta, é sempre instrutivo ver como as pessoas que se valem do discurso do “amor à língua portuguesa” e da “defesa da língua” sempre fazem isso recorrendo a argumentos de autoridades como os “grandes escritores” (os chamados “clássicos da língua”) e, principalmente, os gramáticos e dicionaristas, tradicionalmente considerados como os maiores conhecedores da língua e, além disso, detentores de um poder (atribuído talvez por alguma divindade misteriosa) de delimitação do que “existe” e do que “não existe” no idioma, do que é “certo” e do que é “errado”. No entanto, quando se trata de impor seu próprio ponto de vista conservador, esses supostos defensores da língua se colocam até mesmo acima e além dessas autoridades, atribuindo a si mesmos o poder de decisão sobre os destinos da língua.
Os que erguem a bandeira do “amor à língua” deixam de fazer (por decisão ideológica) uma consulta elementar, por exemplo, aos dicionários mais respeitados da língua portuguesa. Se assim fizessem, encontrariam presidenta devidamente registrado no Caldas Aulete (publicado em 1881), no Aurélio (em 1975) e no Houaiss (em 2001). O verbete mais completo, o do Houaiss, explica que 1872 é a data da primeira ocorrência escrita da palavra. Ou seja, a palavra presidenta não representa absolutamente nenhuma novidade na língua, nem tampouco é uma idiossincrasia da presidenta Dilma Rousseff — a verdadeira novidade é, isso sim, e não me canso de repetir, uma mulher na Presidência da República, algo que irrita as demonstrações de deslavado e violento machismo feitas pela oposição fascistoide têm deixado mais do que evidente.
Mas vale sempre a advertência: o recurso aos dicionários não autoriza nem desautoriza ninguém a dizer ou a não dizer o que quer que seja. Não é o dicionário que faz a língua: não é um simples livro, feito por seres humanos como outros quaisquer, falíveis portanto, que tem a última palavra sobre a língua. Qualquer dicionário, no minuto seguinte à sua publicação, já está ultrapassado: a língua não para, novos termos surgem a cada instante, outros tantos desaparecem do uso, novas acepções são atribuídas a palavras antigas, e assim vai, e vai longe. A língua não para porque a língua, como já escrevi antes, não existe: o que existe são seres humanos que falam línguas, seres humanos que, em sociedade, em inter-relações político-culturais-ideológicas-econômicas, falam línguas.
Defender o uso de presidenta é algo que podemos fazer sem recorrer a nenhum dicionário, mas simplesmente adotando uma postura político-ideológica progressista, que reconhece que a gramática existe para servir aos falantes da língua, e não ao contrário. Não somos escravos da gramática: ela é que depende de nós para existir.