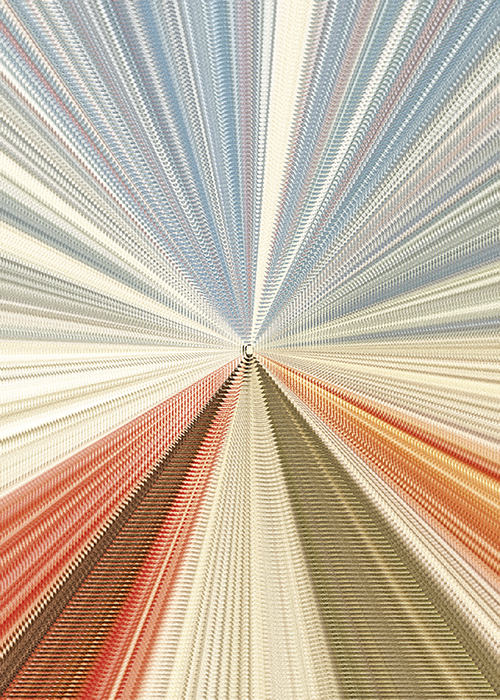
Você lê aqui o nono conto da série Botão Vermelho, uma parceria do Pernambuco com o Instituto Serrapilheira que une literatura e ciência para pensar novos mundos. Este conto é o segundo da nova temporada da série. Clique aqui e acesse o editorial da série, escrito pela curadora e editora Carol Almeida, e os oito textos publicados antes.
No conto abaixo, assinado pelo escritor Bruno Ribeiro, palavras em vermelho indicam informações científicas. Clique em cima delas para conhecer mais dados.
***
“Você quer saber do que é feito o universo? Energia escura e matéria escura. A melhor parte disso é que não temos ideia de como esses negócios são constituídos. Quais partículas elementares as habitam, de que fluído é feito este abismo em que estamos imersos? Sei lá. Só 5% do mundo a gente vê, reconhece e estuda. O resto é essa escuridão, mistério. E o meu trabalho e de outros como eu, detetives da cosmologia, é descobrir como esse mistério tá matando pessoas há alguns anos.”
Ele finalmente quebra a expressão debochada e fica sério.
“Tudo começou na Antártica. Na verdade, começou com detectores gigantescos, tanques de três toneladas de xenônio construído sob 1.400 metros de pura rocha em um maciço montanhoso lá pelas bandas da Itália. Esse bicho foi projetado para buscar as partículas da matéria escura pelo mundo. Começou na Itália, mas hoje existem inúmeros concorrentes, até aqui no Brasil tem detector. Bilhões investidos. Trilhões. O dinheiro é infinito. O homem, a gente, não tem limites. Devíamos desistir de encontrar algo que não quer ser encontrado, mas não. Abriram mais os bolsos e agora estamos nessa: detectores enterrados nos ambientes mais puros possíveis para ver se achamos a inominável escuridão: desde montanhas, campos, florestas, cavernas, praias, sertões. E se a famigerada matéria escura bater de determinado jeito nesses detectores, haverá uma alteração no espectro gravitacional e os cientistas conseguirão reconhecê-la. E caso isso aconteça: glória. A galera que realizar essa descoberta pode dormir tranquila aguardando o Nobel.”
“Mas como detectar algo que não podemos ver ou sentir, velho? Como saber o que é
matéria escura em meio a todo esse mundão?”
“Boa pergunta, cê é inteligente pra um fodido de fim de noite. Realmente, a radiação pode vir de qualquer canto e causar um sinal no detector, tornando a seleção da passagem de uma partícula extremamente difícil. Inclusive, o meu trabalho surgiu por causa desses alarmes falsos.”
“Que viagem é essa, velho?”
“Sim, tudo realmente começou na Antártica, meu jovem. Há alguns anos, houve uma oscilação gravitacional em um dos seus detectores. Nada importante foi captado. Partículas e mais partículas, mas essa oscilação permaneceu até uma equipe ir aos confins da Antártica. Ao chegarem à área onde estavam os detectores de partículas, eles acharam um corpo sem cabeça. Testemunhas? Só os ursos polares e o vento cortante.
Um estranho sinal de elétrons de alta energia resultou em um defunto? Lógico que a mídia caiu em cima disso. Principalmente depois da segunda morte, terceira, quarta, quinta, Estados Unidos, Índia, Tailândia, China, prato cheio pra essa galera. Pois é, eu sei: a coisa apertou. Os cientistas não tinham ideia do que fazer. O dinheiro investido estava em risco. Como estudar algo que aparentemente está matando pessoas? Uma mão do outro lado era capaz de atravessar a matéria escura e assassinar pessoas do nosso mundo? Ou era alguém do outro lado arremessando corpos pra gente? O nosso mundo era o cemitério deles?
Por conta desses homicídios inexplicáveis, os chefões criaram os detetives da cosmologia para averiguar nesses locais onde ficam os receptores se há ou não um culpado humano. De onde surgimos? Nós fomos tirados da CIA, FBI, Scotland Yard, GRU, Shabak, Polícia Federal, escolha a sua organização de preferência. Porque saímos dos nossos empregos? Grana. Prometeram e cumpriram: salários astronômicos. Nós fomos úteis no começo, viu? Descobrimos que muito dos mortos sem cabeça tinham nomes. Eram pessoas comuns, como eu, você. Aleatórias. Aparentemente, o assassino não escolhe as vítimas, ele, ela ou eles pegam o primeiro que veem e créu na cabeça. Descobrimos outras coisas também, mas nada que valha o registro.”
“Que doideira! E no Brasil?”
“Aqui já tivemos uma vítima lá na Amazônia.”
Ele fica boquiaberto.
“Não faz sentido ser um assassino com poder aquisitivo para viajar o mundo inteiro matando gente, até porque ele não teria como causar essa oscilação nos detectores, mas também não faz sentido ser a matéria escura a matar pessoas. Nada faz sentido. A questão piorou quando detetives começaram a morrer. Iam até o local do crime e só restavam os seus corpos sem cabeça para contar história.”
“Você não tem medo de rolar isso com você hoje?”
“Medo? O medo é a nossa gasolina. Há anos que não consigo dormir direito. Você deve estar se perguntando por que continuo trabalhando nisso. Não tenho ideia. É isto que penso quando recebo um e-mail marcando uma reunião para falar de um sinal de instabilidade do espaço-tempo ocorrido em um receptor no Sertão da Paraíba. O único colocado nestas bandas. Achei curioso ter um receptor aqui, sabe? Eu moro em São Paulo desde novinho, mas nasci no Sertão como você.”
“Olhaí, é bem provável que tu seja meu pai mesmo!”
Respiro fundo. Pela janela, o Sertão chega e come a noite. Lembro que este jovem ao meu lado poderia ter sentado em qualquer outro assento. O ônibus está vazio, só há eu, ele e o motorista assoviando um cântico sinistro. Este moleque entrou nervoso, vestido com esse blazer enorme e que não combina com seu corpo esquelético, o rosto negro contrastando com a brancura hospitalar do veículo, a postura de receio. Ele disse que eu parecia com o seu pai, o olho, foi o que ele disse: “Meu pai tinha esses olhões aí de desesperado”, e sentou do meu lado. Disse que estava desempregado e que havia decidido viajar até a casa da mãe em Sousa para contar a péssima notícia. Hoje, ele estava disposto a qualquer coisa, acho que por isso contei da minha vida para este pobre-diabo.
Ele fica me encarando e volta a falar depois de assoar o nariz no blazer: “O universo é muito bizarro, doido, um puta lugar grande que ao mesmo tempo é lugar nenhum. É espaço dentro de espaço e parece que ele tá ligando o foda-se pra gente, e agora tu me diz que tem uma fuleiragem dentro desses mil espaços que tá matando os outros. Viajei num negócio: talvez o outro lado seja só um espelho do nosso. Imita o que somos.”
Não respondo às suas perambulações filosóficas e ele diz que um detetive trabalhando em um negócio tão chique como eu não devia tá viajando de busão.
“Tu queria que viajássemos de nave espacial?”
“No mínimo!”
“Temos que fazer o possível para não sermos identificados. Não devemos existir nem na teoria nem na prática.”
Ele fala mais alguma coisa, não presto atenção, e deito a minha cabeça na janela enquanto habito este ônibus tremulante e velho rumo à sua parada final. O revólver calibre .357 na parte de trás da calça começa a incomodar, bate no meu cóccix e faz com que eu queira chegar logo ao destino. Sinto o peso de algumas curvas íngremes e o motorista alerta que estamos chegando na última parada. Esse ônibus específico foi o que os contratantes disseram para eu pegar: ele vai finalizar o seu percurso na garagem da companhia, num local ermo entre Patos e Sousa.
Aproveito que estamos perto de chegar e pergunto o nome do rapaz ao meu lado, ele responde “Beto”. Digo o meu, “B”, simplesmente B. Beto quer me acompanhar até o fim, diz que tá postergando o rolo que terá que resolver com a mãe e sempre sonhou em ser cientista. Ele pensa que vai aprender alguma coisa na noite de hoje. Jovens. Eu o olho e me vejo no passado. E eu sei que vale tudo pra quem não tem futuro, apesar de achar que terá um. Enquanto conversava com Beto, não conseguia tirar os olhos da nuca do motorista, avermelhada como se estivesse preenchida de picadas de abelhas. O cabelo loiro e vasto. O bigode esquisito. Mais esquisito ainda ele estar usando óculos escuros na madrugada. Cinco horas de viagem sem tirar os óculos. Não falou conosco em nenhum momento, só assoviou. Quando Beto subiu no ônibus, o motorista não parou para mais ninguém. Vi pessoas esticando os braços no meio da estrada e nada. Anotei isto no meu bloco de notas. Beto poderia ser um suspeito, o motorista também. Mas, pensava, o que essas duas almas condenadas poderiam fazer? Desde quando eles seriam assassinos que viajariam o mundo inteiro matando gente e acionando falsamente detectores de matéria escura?
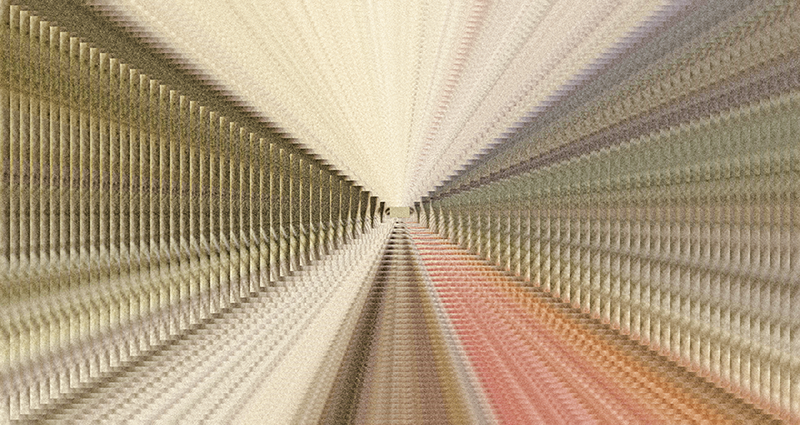
O ônibus estaciona na garagem a céu aberto, uma construção decrépita como uma ruína abandonada e triste. Só há outro ônibus estacionado entre as pilastras rudes e de pintura gasta e descascada, as demais vagas estão preenchidas pelo vazio. Eu pego minha mochila, Beto pega sua mala, descemos e agradecemos ao motorista. Olho ao redor e vejo a paisagem seca do Sertão contornando os restos. Um vazio de gente, de coisas. De acordo com o mapa digital que me deram, o detector acionado foi enterrado há alguns metros dessa garagem, rumo norte. No coração da caatinga. Antes de ir para lá, abordo o motorista no meio da descida dele do ônibus: “Gostei dos óculos”. Ele os tira, os seus olhos são buracos enegrecidos e rodeados de manchas vermelhas, verrugas e furúnculos prestes a eclodir em um mar de pus.
“A radiação ferrou meus olhos e de outro amigo que dirige até essa parada”.
Fico sem fala, mas me esforço para reagir: “Radiação?”.
Ele aponta para o norte, onde devo ir em breve, e diz: “Gente de fora, gente que vocês conhecem, chegou aqui um dia, botou um negócio lá que ninguém sabe, e foi isso. O resto”, ele aponta pros olhos, “é história”.
“Gente que eu conheço?”
Ele começa a rir e não me responde.
Mudo de assunto: “Muitos motoristas pegam essa rota?”.
“Só eu e aquele outro”, ele aponta o dedo indicador enorme para o outro ônibus que havia visto na chegada.
“E ele tá por aqui agora?”
“Ô, se tá. Pode ter certeza que tá. Quer ver o que vocês fizeram?”
O motorista continua rindo, termina de descer do ônibus e se dirige até uma cabine enorme, amarronzada e enferrujada, com uma placa prestes a cair escrita “Companhia Santa de Lourdes — Garagem”.
Olho ao redor procurando Beto, mas ele não está mais por perto. Só há madrugada, vento quente, silêncio. “Beto?”, grito, mas ele não responde.
O motorista entra na cabine e não o vejo mais.
Um temporal violento cai, chuva grossa. Sinto um pouco de medo. Em menos de segundos, o céu se acalma e começa uma chuva regular e lenta. As gotas batem na lataria dos dois ônibus e na cabine com um barulho oco. Tenho subitamente o pressentimento de que a minha vida inteira se parece com esse momento. Três horas da manhã, a hora do diabo. Meu pai, um delegado de merda, falava isso. Cuspo no chão e me dirijo até a cabine. Uma mão seca encosta na minha. Levo um susto: é Beto.
“Que lugar doido. É tudo escuro daqui pra lá”, ele aponta para o norte.
“Você foi até lá?”
“Fui, mas enxerguei pouca coisa. A lua quase não ilumina. Só umas árvores de galho seco, tronco retorcido, cactos, um campo gigantesco e rasteiro, bonitão, apesar de escuro. Onde tá seu negócio?”
“Não sei ainda, provavelmente enterrado nesse campo gigantesco.”
Me aproximo da cabine e Beto me segue.
“Sua mãe ia ficar puta se você me seguisse. Não sei o que vai rolar daqui em diante.”
“Tá vendo? Você é meu pai todinho!”
Beto me abraça, eu o afasto e o chamo de maluco. O moleque abaixa a cabeça, fica tristonho. Aliso a cabeça dele e digo que se tudo der certo comprarei um novo blazer para ele.
Entramos. A porta velha de metal abre com um simples toque de dedo. Lá dentro há um pequeno escritório, computador velho com o Windows 98 na tela, um tapete surrado, quadros com pinturas genéricas de paisagens naturais, um calendário antigo com fotos de mulheres peladas, um ventilador no teto. Me sinto recuando muitos séculos no tempo.
“Ei”, grito. Ninguém responde.
Abro a porta deste escritório e há uma sala de recepção com quatro cadeiras, mesa de piso redonda, paredes pintadas de vermelho, desbotadas. Um calor tremendo nos consome. Suados, abanando sem parar, eu e Beto olhamos para este cubículo e nos vemos sem saída. “Ei”, grito de novo e o motorista responde que está no banheiro. Ele sai de uma porta sanfonada entre as paredes vermelhas, sorrindo e sem os óculos. Beto se assusta ao ver os olhos definhados do motorista.
“Vem.”
“Como é?”, pergunto, encostando a mão no cabo do revólver que está na parte de trás da minha calça jeans tão surrada quanto o uniforme da companhia Santa de Lourdes que o motorista está usando.
“Vem”, o motorista retorna pela porta sanfonada.
Eu e Beto o seguimos como zumbis. Entramos em um banheiro pequeno e que já foi branco um dia, rodeado de moscas, baratas e cabelos nos ralos. Há duas portinhas, uma pia com restos de comida. Fedor absurdo. Uma janela fechada. O motorista abre uma das portas: um corpo nu e sem cabeça está ajoelhado no vaso. Um corpo apodrecido. Melhor dizendo: o resto de um corpo sem cabeça. Só percebi que ele estava decapitado depois de um tempo o fitando. Beto não consegue encará-lo e vomita. Eu seguro.
“Esse é o meu amigo, gente, é ele, olha o que vocês fizeram!”, o motorista diz.
“A gente?”, grito para esse maluco, grito para mim mesmo, grito para tentar acalmar o que tá batendo dentro de mim.
O motorista ajeita o corpo e começa a falar: “Eu escutei você no ônibus, cê é da Física, cientista, entropia e o caralho a quatro, igualzinho os caras que botaram o diabo aqui, lá, em todo canto, eu vi o dia, tava trabalhando, cês botaram, os gringos bonitões, cheios de canxa, botaram um negócio véi ali no campinho que atraiu esses infernos pra cá, botaram essas porra de buraco negro, veio um buraco negro de guilhotina e tchau cabeça. Eu não vou ser o próximo! O caralho que serei!”
Beto fica sem reação, ele nunca imaginou que um desemprego e a postergação de uma visita ruim à sua mãe poderia resultar neste encontro. Eu sei que meu emprego é absurdo, mas também nunca imaginei me deparar com uma figura dessas.
“Por que tu não chamou a polícia, velho?”, Beto pergunta se tremendo.
Uma pergunta inocente, penso ao olhar para os olhos vidrados e enlouquecidos do motorista.
“Chamar a polícia, cê disse? Como tu denuncia um negócio desses? Tu tem jeito de policial, me diz aí, espertão, cê acreditaria se eu contasse que vi um negócio do céu descer e puxar a cabeça do meu amigo? Acreditaria o caralho. Não sou doido, não mesmo, só vi o que não devia, entenderam?!”
“Isso foi você, seu maluco, cê matou o seu amigo, essa garagem tá desativada e tu tá pirado, porra!”, Beto grita, “o doidinho aí tá morto e tu continua trabalhando como se nada tivesse acontecido! Né isso, B, né isso?”
Ainda aperto o cabo do revólver. Sussurro “calma” para Beto, coberto de suor.
“Eu só continuo dirigindo pra ver se acho a solução, aquele céu de novo, mas vou achar, porque eu vi, eu vi, e foi culpa de vocês tudinho, e vocês vão me ajudar! Vão sim!”
“Seu drogado maluco”, Beto se enfurece, “cê não viu nada! Isso é coisa de doido, isso é falta de Deus!” Beto puxa o ferro da minha calça. Vacilei. O motorista aparentava ser a única testemunha viva dos crimes que investigávamos há tantos anos. Doido ou não, ele era a chance de eu receber uma promoção ou até me aposentar. Beto arruinou com isso. No desespero e com a arma em mãos, ele aperta o gatilho, a primeira bala pega na parede do banheiro, a segunda no braço do motorista. Ferido, ele vira as costas, quer fugir do inevitável. Tento intervir, mas Beto me empurra e abre fogo: o terceiro e último tiro pega na nuca do motorista que cai morto instantaneamente. Dou uma rasteira em Beto e voo em cima dele. O desarmo com a palma da minha mão e o soco, muitos socos, perco a conta, só paro quando vejo o sangue e o inchaço em seus lábios.
Como explicar este corpo?
Como explicar que um estranho matou a única testemunha em anos destes crimes?
Os contratantes farão perguntas, eles pedem fotos e vídeos das nossas visitas, relatórios esmiuçados. Já era. Beto alisa o rosto ferido, chora, fala que tá arrependido. Me vem uma ideia. A única ideia possível para o meu relatório não me condenar: arrancar a cabeça do motorista e falar que, assim como o seu amigo, ele foi alvo do que seja lá que esteja havendo com os detectores. Dois mortos em um mesmo local não vai me dar problema no relatório. Teve países em que foram reportados dez corpos ao redor dos detectores. Uma chacina. E eu posso dizer com orgulho que sei forjar uma cena de crime como ninguém. Meu trabalho como policial, principalmente na época da militar, era basicamente fazer isto: construir teatros com os mortos que nós mesmos criávamos.
Volto a respirar em paz com essa possibilidade. Neste fim de mundo ninguém vai nos interromper. Dou uma tapinha nas costas de Beto, o acalmo, pergunto se ele quer me ajudar a limpar esta merda. Ele diz que tá com medo. Eu digo que se ele não ajudar, terei que levá-lo preso por assassinato.
“Cê sabe que sou policial.”
Ele volta a tremer e diz que fará o que eu mandar. Abro um sorriso e digo: “Talvez não haja um assassino metafísico, talvez seja obra de gente. E com gente eu sei lidar”.
Fomos atrás de uma faca ou serra, qualquer coisa que pudesse nos auxiliar a degolar o motorista. O tiro pegou na nuca, metade do trabalho está feito. Beto sai da cabine, o sigo. Perto do ônibus está a sua mala. Ele se ajoelha e começa a mexer nela. Está mais escuro agora do que antes. Som de insetos no vácuo. Céu com nuvens por conta da chuva. Olho para o ônibus do amigo do motorista. Desperto do transe com Beto me mostrando um estilete. Voltamos ao banheiro. Partindo do buraco da bala na nuca do motorista, enfio o estilete e vou serrando pacientemente. Demora, mas temos tempo. Os ponteiros pararam neste apocalipse. A hora do diabo passou. Nada, nem estas moscas, irão interromper o meu plano. A cabeça finalmente ganha a minha mão. Peço para Beto segurar pelo cabelo, ele faz cara de nojo. Grito com ele, boto pressão. O moleque segura a cabeça do motorista. Me levanto, me espreguiço. É melhor me livrar dessa cabeça primeiro para as fotos ficarem convincentes. Pego ela da mão de Beto.
“Me segue.”
Saímos da cabine, seguimos pelo norte, penso em cavar algum buraco nessa caatinga infinita para enterrar a cabeça, mas nem preciso caprichar: os contratantes vão acreditar nas fotos, vídeos e no meu depoimento no relatório. A noite fica mais íngreme durante a nossa caminhada. Beto me segue. O detector deve estar por perto. Pego o meu mapa digital para conferir a localização exata, mas ele está falhando. Era só o que faltava. Piso numa terra fofa e acho que é o canto ideal para afundá-la, até que um vento gelado bate na minha orelha. Um frio no meio do inferno. Uma mão puxa a cabeça de mim. Ela some. Uma voz distante e com um eco gutural de alguma dimensão que não consigo alcançar nesta penumbra invade o silêncio.
“Ossi em ecnetrep”, a voz canta e some.
Olho para trás e peço para Beto parar de brincar e devolver a cabeça. Ele encolhe os ombros e contorce o rosto, diz com uma voz fina, amedrontada: “A cabeça sumiu da sua mão, velho”. Nos olhamos por um instante. Não há mais som. Beto grita, mas não escuto nada. Grito também, não escuto a minha própria voz. Beto foge, corre muito. Estou só neste campo vasto. A noite me toma pelos braços. No céu, fendas se abrem nas nuvens. Fendas com contornos claros como se trovões estivessem se enraizando dentro delas. Eu pego o celular, tento ligar para os meus contratantes, está sem sinal. O celular pifa. As fendas vão se multiplicando, rasgando o céu. A imagem é eloquente, mas ocorre no mais profundo silêncio.
Ainda escuto minimamente os passos de Beto, mas até este som se distancia, se torna nada. Enroscado sobre mim mesmo, sinto mãos, dez, cem, quinhentas, não sei quantas mãos na minha cabeça. Dor no pescoço. Olhos arregalados. Vultos. Encarei as fendas espelhadas em forma de relâmpagos e me enxerguei, há anos não me via, mas vi: o meu rosto não refletia nenhum sentimento humano, mas refletia um abundante terror abjeto. Não consigo mais tirar os olhos das fendas se abrindo. A minha cabeça é embrulhada, expandida, contorcida, entroncada, torcida como um nó, redobrada até se esvair no espaço, restando deste embate de milésimos de segundos apenas um pedaço de carne, um corpo degolado na escuridão.
--
Bruno Ribeiro (PB), 31, escritor, roteirista e tradutor é autor dos livros Arranhando paredes (Bartlebee), Febre de enxofre (Penalux), Bartolomeu (autopublicação), Zumbis (Enclave) e Glitter (Moinhos). Foi também vencedor do Prêmio Todavia de Não Ficção com o projeto de um livro-reportagem sobre um feminicídio no agreste paraibano.
A pesquisa científica que inspirou essa história é do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Farinaldo Queiroz, que fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Durante o doutorado esteve no FERMILAB, nos Estados Unidos, e ganhou o prêmio de melhor tese da Sociedade Brasileira de Física, em 2013. Sua pesquisa hoje consiste em propor inovadoras buscas pela natureza de partículas que compõem a maior parte do universo que nos cerca, e mostrar que essa busca precisa acontecer a partir da interdisciplinaridade entre diversas áreas como geologia, astrofísica, cosmologia, física de partículas, matéria condensada, física nuclear, etc.