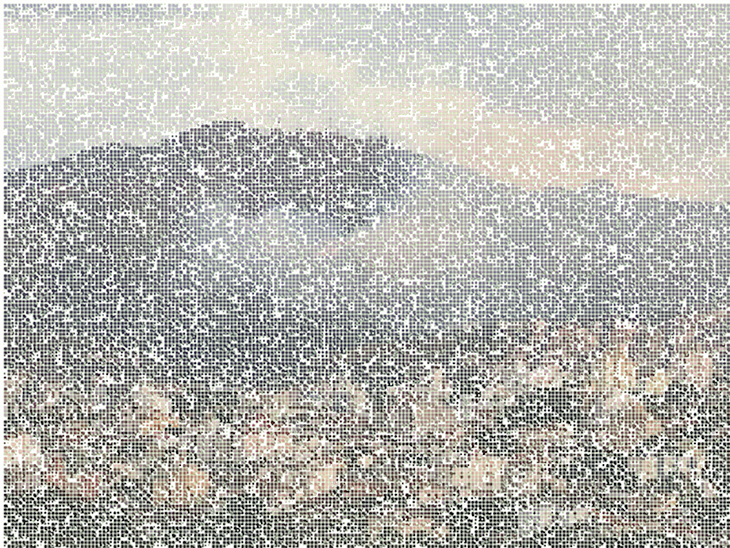
Você lê aqui o oitavo conto da série Botão Vermelho, uma parceria do Pernambuco com o Instituto Serrapilheira que une literatura e ciência para pensar novos mundos. Este conto é o segundo da nova temporada da série. Clique aqui e acesse o editorial da série, escrito pela curadora e editora Carol Almeida, e os sete textos publicados antes.
No conto abaixo, assinado pela escritora Cidinha da Silva, palavras em vermelho indicam informações científicas. Clique em cima delas para conhecer mais dados.
***
Vivia assim, dividida entre a montanha e o mar, desde a infância. No meio da montanha tinha casa, casa de todo dia. O mar abrigava o sonho, o refúgio, a fantasia, até descobriu uma ciência em que cabia seu desejo do mundo, a oceanografia.
Na casa de todo dia tinha o pesadelo do trator e da retroescavadeira que a perseguiam e acordavam no susto. O trator passava por cima de tudo, derrubava as casas e as árvores de frutas, as gangorras nos galhos da mangueira, o zanga-balanga na frente da casa da tia, destruía as hortas, as casas da criação. Matava o pequizeiro, árvore do Cerrado, entre tantas plantas do Cerrado que existiam por ali.
O pé do rei do Cerrado, propriedade coletiva, ficava na Rua Trifana, entrada da comunidade e alimentava o povo todo da Vila Real Pombal do Curral Del’ Rey. Comiam pequi cozido na água com uma pitada de sal, com arroz, com frango, os pratos de jaca com pequi, que a mãe aprendeu a fazer na casa da patroa vegana.
Na Vila, as crianças pequenas já aprendiam a comer pequi segurando com a mão e raspando com os dentes inferiores. O que se come da fruta é uma polpa fininha que você deve morder com cuidado, senão atinge uma camada de espinhos minúsculos que grudam na língua e lábios.
A retroescavadeira não tinha função prática no pesadelo, ficava parada, inativa, aguardando não se sabia o quê.
Renata não contava o sonho recorrente a ninguém e sempre que a lembrança a incomodava durante o dia, ela se refugiava no mar, aquele conselheiro misterioso e encantador. Falava do mar como se o conhecesse, como se tivesse estado lá por diversas vezes, como se ele a aguardasse para o reencontro com uma amiga querida. Chegou a iniciar um livro escrito à mão, Aventura em mar aberto era o título, inspirado nas séries de aventura lidas na escola, casos de detetives que procuravam borboletas, de meninos urbanos em férias numa fazenda, envolvidos com vacas leiteiras, vacas bravas, histórias de canoas à deriva no rio, de meninos que se perdiam na mata. Pensava que a sua seria uma aventura de verdade, no mar aberto, valendo-se dos próprios recursos técnicos para dominar o mar, além da coragem que ela julgava ser maior que a de todas as outras crianças.
Para construir a ambiência marítima da aventura, pesquisava sobre embarcações, pesca em alto-mar, baleias, golfinhos, cavalos-marinhos, arraias, pescadores, náufragos, tubarões, ventos, queria escrever um livro convincente, com fundamentação científica, não as aventuras que os colegas amavam e ela considerava tolas. Os estudos varavam a noite, acendia a pequena luminária no chão, entre a cama e a parede para não incomodar as irmãs que dormiam no mesmo quarto. Eram livros da biblioteca pública estadual, para a qual ela caminhava durante uma hora feliz, bebia água no bebedouro, sentava por três horas para ler as revistas científicas, escolhia algum livro na sessão de empréstimos e antes de entardecer caminhava por mais uma hora de volta à Vila.
O livro da aventura marítima nunca foi escrito, mas o caderno com as anotações e croquis de animais marinhos e barcos a acompanhou para sempre, inclusive nos dias de prova de vestibular para o curso de Oceanografia que não ocorreu numa cidade de água, mas numa outra de concreto. “Aventura em mar aberto” era um amuleto que lhe lembrava que o sonho podia ser bússola, e quando se perdesse de si, a retomada do sonho podia reorientar o caminho.
Em casa, a família tinha muito medo das águas, não das águas do mar, que mar ali por perto não havia, mas das chuvas. Morar dentro de uma montanha -tinha esses contratempos, muita memória de deslizamentos de terra, do desespero de ver tudo destruído, de perder vidas, de reconstruir a vida do zero. E ainda agora o agravamento dos perigos pelo descontrole do tempo, pelo aquecimento global. O enfrentamento de chuvas cada vez mais fortes e fora de época.
Um medo de duas faces assombrava o povo da Vila Real Pombal, que o morro viesse abaixo pela chuva ou pelos tratores da prefeitura.
Os pais de Renata, que alternavam períodos de sono e vigília nas noites de chuva e tinham ouvidos treinados para acompanhar a movimentação do barranco, o som das casas vizinhas e suas rachaduras, a voz dos bichos que sempre anuncia quando uma desgraça está para acontecer, naquele momento tinham o sono roubado pelo fantasma da desapropriação. A prefeitura tinha anunciado o fechamento da boca de mina na Serra do Curral, a recuperação da vegetação de Campos de Altitude, Cerrado e Mata Atlântica para construir um parque, uma reserva ambiental para a cidade e, como era de se esperar, expulsariam pessoas e casas que não cabiam num cartão-postal.
Os jovens universitários do morro resolveram montar o Museu Comunitário da Vila Real Pombal do Curral Del’Rey, como forma de preservar a memória do povo. Foi bonito ver aquelas moças e rapazes passando de casa em casa e explicando o que era o Museu, recebendo em troca doações e histórias.
O Seu Wilson doou uma igrejinha em madeira policromada, construção própria. Ele dizia que foi a primeira coisa feita por ele quando chegou à Vila. Era a lembrança da igreja da sua infância que tinha duas torres, janelas na fachada, uma porta central e um relógio acima dela. O sino batia a cada hora cheia marcada no relógio da igreja. E a cada dia vivido, as badaladas da memória revigoravam a imagem da infância. Então, a memória se materializou naquela pequena escultura em madeira e depois se tornou uma peça grande, pintada na parede da sala de estar da casa de Seu Wilson. Era um jeito dos visitantes entrarem na igreja que sempre morou dentro dele.
Dona Justina ofereceu ao Museu a cama que a patroa havia lhe dado de presente após seis anos como trabalhadora doméstica naquela casa; tinha 1,5 de comprimento, 60 cm de largura e noites de silêncio dolorido, humilhação, exploração, saudade sufocada, mas também de resistência de uma mulher que sobreviveu e construiu condições para que suas filhas não tivessem que dormir numa cama como aquela.
Lilica ofertou um cinzeiro de bronze fundido, tal qual a cama de Dona Justina fora presente da patroa. Os meninos disseram que não registrariam a história da peça, aquele presente torto entraria para o Museu como provocação a quem descarta aquilo que não significa ou não presta para mais nada e dá de presente para quem cuida da sua casa, cozinha, lava roupas, cuida dos filhos, dos cachorros e gatos, lava os banheiros, foge de abusos sexuais do patrão e dos patrõezinhos.
Andressa, sua colega de escola, doou ao Museu uma lamparina de cerâmica vermelha e dourada que lembrava a lâmpada do conto infantil Aladim e a lâmpada maravilhosa. Andressa foi adotada por uma família do morro, mas seus irmãos permaneceram no abrigo. A lâmpada mágica era o único presente que ela guardara do pai biológico e, do alto de seus 12 anos de idade, a menina resolveu doar a peça ao Museu na esperança de que um dia os irmãos pudessem passar por lá, pudessem reconhecer a peça, perguntassem onde morava a dona da lâmpada e assim, ela poderia reencontrá-los.
A irmã de João do Burro, já falecido, doou um burrinho de carga esculpido em terracota policromada. João não tinha nada antes de tê-lo, era um menino sem perspectivas que carregava sacolas no mercado, sacolas grandes, quase maiores que ele. Um dia, uma senhora teve pena do menino e o levou para casa. Dava-lhe umas sobras de comida, de cadernos e lápis, roupas usadas e desprezadas pelos filhos, contudo, qualquer coisa tinha valor diante do imenso nada da vida de João. Em outro período da vida, já adulto, depois de muitos anos de serviços prestados, a madame deu ao João como presente um burrinho de pata quebrada, que ele consertou com muito zelo.
A família de Renata doou um velocípede que alegrou a primeira infância de cada uma das três meninas. Não pretendiam ter mais filhas, nem o desejado menino, e resolveram doar o brinquedo que carregava memória de um tempo de fartura e alegria.
A desapropriação era uma questão de tempo, mas eles resistiriam até o final para tentar uma indenização decente, algum pagamento pelo terreno e não apenas por metro quadrado construído, como era hábito da prefeitura fazer.
Os pais pediram segredo às filhas sobre o apartamento comprado no Conjunto Palmital, um condomínio popular distante da cidade. O pai, previdente, tinha guardado o dinheiro da indenização da firma onde trabalhou por quinze anos como ferramenteiro. Usou o dinheiro para dar entrada na compra do apartamento. Mas era mais seguro não comentar, porque alguém poderia interpretar que a família estava tripudiando sobre o infortúnio da maioria que não tinha para onde ir, que teria de contar com aluguel social para ter moradia, com a ajuda de parentes que os recepcionasse ou, como falta de alternativa, engrossariam a população que vivia nas ruas.
Enquanto o pai calculava o horário de saída de casa para o trabalho no bairro novo, provavelmente às 4h30 da manhã, e queimava as pestanas para saber se haveria ônibus naquele horário, a mãe o tranquilizava, lógico que sim, nos bairros-dormitórios os ônibus começam a circular muito cedo, a vida é organizada em torno do trabalho. Ele se lamentava porque da Vila Real Pombal para a empresa ele gastava 35 minutos. A mãe lastimava também que as meninas tivessem de sair da boa escola onde estudavam para outras que eles não tinham ideia do que seriam e ainda precisavam se mudar até junho, porque depois disso as escolas não aceitariam transferência e as meninas não podiam ficar sem estudar.
Renata pensava que um lugar chamado Palmital deveria ter plantação de palmitos e que talvez os mercadinhos do bairro vendessem palmito local mais barato do que os supermercados da cidade. E talvez lá os pais pudessem comprar, já que na cidade não dava e também não tinha palmito na cesta básica do serviço do pai. Ela tinha comido palmito uma vez só num restaurante popular da Via Expressa e tinha gostado tanto, mas o pai dizia que não dava para comprar. Era muito caro. Comer palmito no Palmital passou a ser um desejo acalentado pela mudança forçada que dividia espaço com os pesadelos do trator ativo, da retroescavadeira quieta e os sonhos com o mar, seu porto seguro.

Naquela semana, a casa vivia uma movimentação diferente, o pai e a mãe voltavam do trabalho com uns caixotes de madeira e ficavam até tarde da noite separando coisas de cozinha e acomodando nas caixas, embalando em jornal a louça do enxoval de casamento e protegendo com a roupa de cama dobrada. Na segunda-feira cedo, a mãe conversou com as três irmãs e avisou que naquele dia não iriam à aula, que arrumassem suas coisas nos caixotes porque no final da manhã o pai chegaria com o caminhãozinho da mudança. Ela e as irmãs até ensaiaram perguntar à mãe se não se despediriam dos amigos da Vila e da escola, mas desistiram porque perceberam o quanto ela estava nervosa e triste. Aquela tristeza curtida tão familiar no rosto das mulheres da Vila, que cuidavam sozinhas dos filhos, que perderam filhos, que trabalhavam a semana inteira e aos domingos levavam jumbo para os maridos na penitenciária de Neves, agora viam no rosto da mãe.
Será que lá tem palmito? Ai, a Renata vive no mundo da lua, diz a irmã mais velha. Do que você está falando, menina? Palmito, uai. O nome do bairro aonde a gente vai morar é Palmital? Será que lá tem plantação de palmito? Ai, cala a boca Renata, arruma suas coisas direito. Se você esquecer alguma coisa, eu é que não vou pegar.
Ela se lembrava disso agora, enquanto via pelo computador da base oceanográfica, a notícia sobre as escavações na Serra do Curral. Dois dias depois da mudança para o Palmital, caiu uma chuva que partiu a montanha ao meio. Foi barro que não acabava mais, soterrou casas e pessoas, uma tragédia, parecia premonição da lama de Mariana. Sua família se salvou, porque prestou atenção no movimento dos cães. A mãe reparou que os dois cachorros da família e os outros da vizinhança estavam inquietos e raspavam a terra daquele jeito que eles fazem quando a morte se aproxima. Não teve dúvidas, conversou com o marido e decidiram organizar a mudança, a vida acima de tudo. Não teria problema se as filhas perdessem o ano escolar, o fundamental é que elas se mantivessem vivas e seguras.
O Palmital era longe de tudo e quase não tinha serviços por perto, mas o que ela e as irmãs mais sentiram foram as diferenças na escola. Os pais foram chamados para reunião de urgência porque, segundo as professoras, ela e a irmã mais velha deviam ficar mais caladas, pois, como já sabiam tudo o que estava sendo ministrado, atrapalhavam o ritmo da turma, elas precisavam se adaptar. As duas aquiesceram, se tornaram caladas e frustradas e cada vez mais Renata se abraçava ao mar. E ainda por cima não tinha mais acesso às revistas científicas da biblioteca estadual que lhe faziam tanta falta.
Renata até conseguia rir quando se lembrava de que no Palmital não tinha plantação de palmito, nenhum pezinho comunitário de palmito na praça como o pequizeiro da entrada da Vila, tampouco palmito no mercadinho.
Mantinha um olho na notícia sobre a escavação na Serra do Curral e outro no correntógrafo que media as oscilações das correntes marítimas para sua pesquisa. Retroescavadeiras trabalhavam na área delimitada pelos arqueólogos que haviam convencido a prefeitura de Belo Horizonte a disparar na frente de outros pesquisadores ao inaugurar a área de campo Arquelologia de Favela. Ainda mais ali que os moradores tinham construído um Museu dedicado à preservação da memória material e imaterial da Vila, a partir de doações dos moradores. Renata se lembrava de que no Museu havia fotografias, vestimentas e objetos religiosos, utensílios domésticos, obras de arte, sim, obras de arte. Os objetos e as exposições tinham como pano de fundo a memória das lutas pelo pertencimento ao território, e faziam parte da narrativa das pessoas cujas histórias são negadas pela história oficial.
Saudosa, Renata recordava aquela iniciativa dos jovens universitários do morro. Sua mãe que havia perdido um tio por perseguição política na ditadura civil-militar tinha muito medo de envolvimentos com política e não deixava que ela e a irmã mais velha se aproximassem demais da moçada que tocava o Museu, porque o tio havia sido morto por ser comunista e ela não queria mais nenhum comunista na família para ser torturado e morto.
Além das peças doadas, foram soterradas as exposições permanentes: a Memória revelada, coleção de fotos do Du Retratista que ao longo de cinco décadas documentou festas de aniversário, casamentos, batizados, bodas de prata, festas de formatura, noivados e até churrasco comemorativo de divórcio. A instalação Doméstica, da escravidão à extinção: uma antologia do quartinho de empregada no Brasil, onde ficava a cama doada por Dona Justina. A coleção Pedro Pedreiro que discutia as condições de trabalho desumanas a que estão submetidos os trabalhadores da construção civil no Brasil.
Será que o projeto Arqueologia de Favela encontraria algum desses objetos nas escavações? E se os encontrasse teria algum compromisso em reconstituir sua memória? Era esse o pensamento de Renata enquanto escutava com atenção máxima, a memória do oceano.
Renata havia colado na contracapa do Mar aberto o panfleto que os colegas da irmã mais velha distribuíram durante a festa de coroação de Nossa Senhora do Rosário, um ano antes do acidente causado pela chuva torrencial fora de época: “O Museu Comunitário da Vila Real do Curral Del’Rey atualiza e alarga a definição de quilombo urbano como um território negro que reivindica o direito à cidade para a população negra e moradora de favelas, desde a memória à fruição. Propomos um Museu vivo, uma força agregadora de saberes, impulsora de desejos de permanência em um espaço, a favela, como agentes de transformação que ressignificam o tempo da urbe por meio de relações mais humanas e solidárias. Este Museu é um dinamizador de afetos que almeja preservar a memória de pessoas que construíram a cidade de Belo Horizonte e pouco tiveram e têm acesso às suas benesses; pessoas que são hostilizadas pelos que sempre detiveram os recursos materiais, ao tempo que são explorados como mão de obra de baixo custo para trabalhar em suas casas ricas. O Museu oferece carne, ossos e sistema nervoso ao entendimento do conceito de gentrificação experimentado pelos moradores de favela em seus próprios corpos e em suas honradas moradias, enviados a contragosto para lugares muito distantes dos centros urbanos por ação caprichosa e desumana da especulação imobiliária. O Museu quer se ocupar de guardar a alma desses territórios negros expropriados em objetos carregados de história e humores doados ao acervo. Quer registrar os depoimentos e os sonhos das pessoas que são obrigadas a deixar o seu meio, mudando-se para lugares sem história. O Museu Comunitário da Vila Real Pombal do Curral Del’Rey quer ser o guardião das memórias dessas gentes, queremos dizer a elas: Vocês não estão sós, nós estamos aqui, ficaremos aqui e pedaços significativos de vocês ficarão conosco e contarão aos que vierem quem foram vocês e as riquezas humanas que construíram. Como na canção, nosso Museu é sentinela e vela pela memória dos que se foram, seja porque se mudaram, seja porque se desconectaram deste mundo. Nosso Museu é protetor da memória dos que lutaram e conseguiram permanecer, dos que lutaram e foram desterritorializados. O Museu Comunitário da Vila Real Pombal do Curral Del’Rey é a casa que grita pelo direito à cidade para os negros e moradores de favela, é o quilombo urbano que revitaliza o sentido de liberdade que erigiu os quilombos originários”.
Relações mais humanas e solidárias, dizia o panfleto. Os pais de Renata se culparam o resto da vida por não terem de despedido dos vizinhos adequadamente, por eles terem morrido e pela família ter sobrevivido, mas como eles iriam explicar para as pessoas que os cachorros sentiam o cheiro da morte e eles se mudaram porque consideraram seriamente o aviso dado por eles?
--
Cidinha da Silva (MG) é escritora e editora na Kuanza Produções. Publicou 19 livros, entre eles Um Exu em Nova York (Prêmio Biblioteca Nacional, 2019) e Os nove pentes d’África (PNLD Literário 2020).
A pesquisa científica que inspirou essa história é da professora da UFPR, Renata Hanae Nagai, oceanógrafa pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, com doutorado pelo mesmo instituto e pós-doutorado no Departamento de Oceanografia Física, Química e Geológica do IOUSP e no Lamont-Doherty Earth Observatory da Columbia University. Seu trabalho consiste em estudar se houve aquecimento abrupto e mudanças na química dos carbonatos nas águas do Atlântico Sudoeste nos últimos 200 anos e se as mudanças espaço-temporais observadas nos primeiros 2 mil metros da coluna d’água do Atlântico Sudoeste desde o período pré-industrial (1850-1900) estão em fase com outras reconstruções globais.