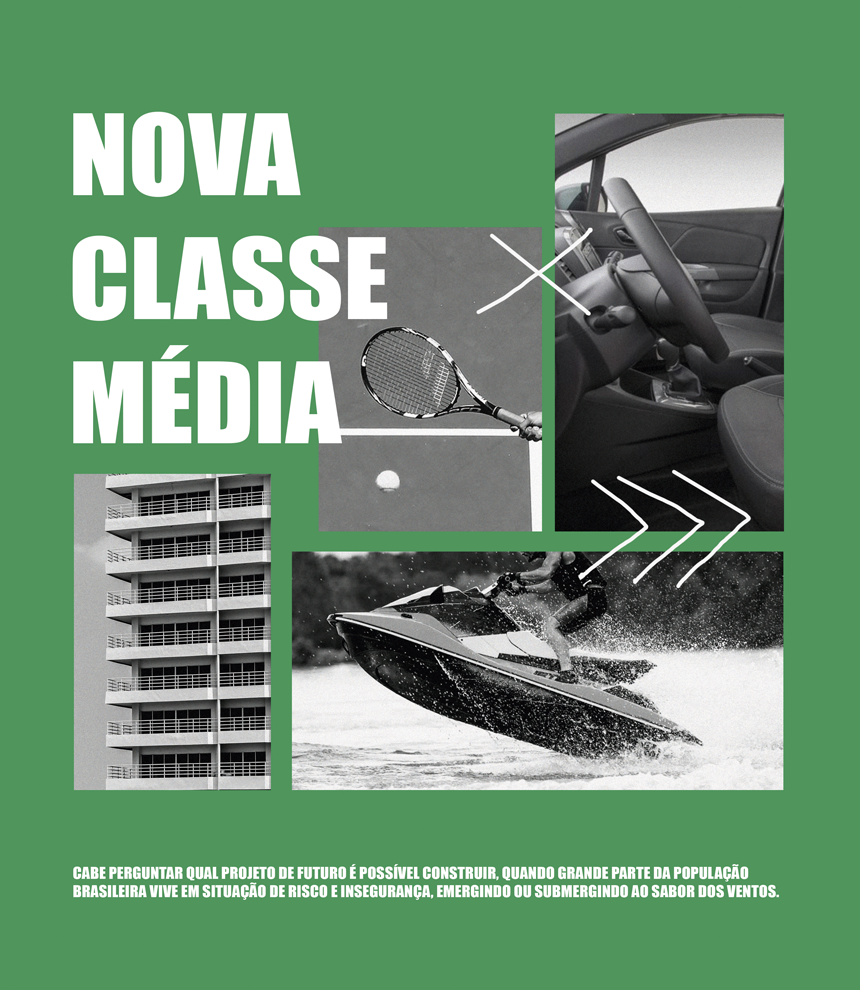
“Classe média” é uma expressão extremamente carregada de significados. Em 1883, por exemplo o abolicionista Joaquim Nabuco (1849-1910) se queixava de que “a classe média, força motriz das nações, não podia ser encontrada em lugar nenhum no Brasil”, e assim buscava explicar os “atrasos” do país. Mais tarde, em meados do século XX, o sociólogo francês Jacques Lambert (1901-1991) afirmava que “seria acima de tudo em relação à ascensão das classes médias que o novo Brasil se diferenciaria do velho”.
Esse juízo tem uma longa história, que vem desde a experiência inglesa no século XIX, quando a ascensão dessa classe coincidiu com a proeminência política, econômica e cultural daquele país. Assim se originou a narrativa de uma classe média universal, modernizante e símbolo de progresso. A partir daí surgira também a noção de que as perspectivas de uma nação poderiam ser inferidas por meio do tamanho de sua classe média. Nessa leitura, a classe média seria o principal agente portador das atitudes e valores responsáveis pela modernização da sociedade, como o individualismo, meritocracia, pensamento prospectivo etc.
Ao interpretar as mudanças pelas quais a sociedade brasileira passava, no século XX, como a expansão daquela classe, tal perspectiva acenava, explicitamente ou não, com a narrativa da classe média virtuosa. Com efeito, as abordagens não se limitavam a constatar a ascensão econômica de um amplo contingente de famílias, mas indicava também que esse fenômeno seria acompanhado de mudanças em termos de comportamentos e atitudes. Desse modo, era fornecida não apenas uma interpretação sobre as recentes mudanças atravessadas pela sociedade brasileira, como também, a partir daquela interpretação, vislumbrava-se, de modo bastante difuso e impreciso, quais seriam suas consequências.
Não há momento mais oportuno do que este para voltar a falar sobre classe média no Brasil. Na primeira década do século XXI, economistas brasileiros apontavam o crescimento dos estratos médios de renda, a chamada “nova classe média”. Seus estudos, que definiam as classes através de renda ou consumo, impulsionaram a crença de que havíamos nos tornado uma sociedade de classe média. Na esteira desse debate, vimos surgir inúmeras reportagens sobre famílias que haviam elevado o padrão de consumo e conquistado espaços antes exclusivos de setores mais abastados, tais como aeroportos, hotéis, escolas privadas etc. Realidade que causou certo desconforto em uma parcela da classe média tradicional.
De fato, foi um período em que o Brasil experimentou crescimento, que, aliado à estabilização econômica alcançada, transferência de renda e expansão do crédito, elevou o padrão de consumo de muitas famílias. Tomando como base esse cenário economicamente positivo, o economista Marcelo Neri cunhou o conceito de “nova classe média” já no título de seu livro A nova classe média, publicado em 2008 pela CPS/FGV, resultado da diminuição dos grupos de renda inferiores e o correlato crescimento dos grupos intermediários.
No entanto, apesar da centralidade da renda para as condições de vida da população, o conceito de classe não pode ser reduzido a ela. Como demonstrou André Salata, em A classe média brasileira: Posição social e identidade de classe (Letra Capital Editora, 2016), o simples aumento de rendimento não retrata, necessariamente, mudanças na composição das classes, especialmente no que diz respeito às desigualdades nas chances de vida. Além disso, renda e acesso ou volume de consumo pouco ou nada revelam sobre estilos de vida, gostos, valores, comportamentos e práticas – dimensões importantes da vida social.
A nova classe média ou classe C, definida a partir da mediana de renda familiar per capita e que corresponde ao segmento que se encontra no intervalo acima dos 40% mais pobres e abaixo dos 10% mais ricos, demonstrou enorme heterogeneidade quando confrontada com sua composição ocupacional. Se adotarmos o esquema de classes mais comumente utilizado na Sociologia da Estratificação, baseado na classificação sócio-ocupacional desenvolvida por Robert Erikson, John Goldthorpe e Lucienne Portocarrero, observamos nos dados da PNAD-IBGE tanto de 2002 como de 2009 que esse segmento inclui desde profissionais de nível superior e administradores até trabalhadores manuais não qualificados e trabalhadores rurais, passando por pequenos proprietários, trabalhadores manuais qualificados e não manuais de rotina. Em 2009, os trabalhadores não qualificados são os mais representados neste grupo, com aproximadamente 30%; em seguida, temos os trabalhadores manuais qualificados (28%), não manuais de rotina (17%), rurais (10%), pequenos proprietários (6,9%) e profissionais e administradores (5,5%).
As classes que a Sociologia da Estratificação identifica como “classes médias” – profissionais e administradores, trabalhadores não manuais de rotina e pequenos proprietários – respondiam por apenas 32,9% da dita classe C em 2002, e 30,1% em 2009. Isso é apenas um pouco mais do que a metade da participação dos trabalhadores manuais no interior deste grupo de renda: 59,2% em 2009. Ficam claras, desta forma, as dificuldades de se falar no Brasil como um país predominantemente de classe média com base unicamente no crescimento dos grupos de renda intermediários; o que evidencia a impropriedade da renda como definidora de classes.
Pudemos observar, através dos dados expostos, a expansão do mercado de trabalho e crescimento da renda no Brasil, em particular para as classes inferiores da estrutura social. Apesar disso, não foi verificado aumento da participação das classes médias, no sentido sociológico, na estrutura social brasileira entre os anos 2002 e 2009.
Constatamos, também, que nos últimos anos a composição desta classe média sofreu pequenas alterações, com a diminuição, no seu interior, da participação dos pequenos proprietários e aumento da participação dos trabalhadores não manuais de rotina – o que parece configurar uma reversão das tendências apontadas por Marcio Pochmann e outros autores em Classe média: Desenvolvimento e crise (Cortez Editora), de 2006, para as duas últimas décadas do século XX. Além disso, os dados trabalhados também mostraram que as classes médias brasileiras são compostas em maior proporção por indivíduos brancos e de escolaridade média-alta.
No interior das classes médias, os profissionais e administradores se destacam por sua renda elevada, alta proporção de indivíduos com nível superior e pequena proporção de negros. Já os trabalhadores não manuais de rotina, por outro lado, vêm se aproximando dos trabalhadores manuais qualificados tanto em termos de rendimentos quanto em termos de composição racial. Nesse sentido, em vez de falarmos de uma “nova classe média”, poderíamos ponderar, talvez, sobre uma parcela da classe trabalhadora que, em relação a certas características, quase exclusivamente os rendimentos, estaria se aproximando dos setores mais baixos das classes médias.
Mesmo considerando a renda para definição de estratos, Celi Scalon, André Junqueira Caetano, Hugo Chaves e Luana Costa, no artigo Back to the past: Gains and losses in brazilian society, publicado no Journal of Chinese Sociology em 2021,[nota 1] mostram que não houve mudança significativa na estrutura da distribuição no rendimento das famílias quando comparados os anos de 2001, 2008 e 2015. Embora houvesse maior abertura nas chances de ocupar estratos de renda superiores para grupos minoritários em 2008, a pirâmide de renda não se alterou significativamente e os ganhos observados na metade da primeira década do século já haviam sido perdidos em 2015, voltando ao patamar de 2001.
O fato de a melhoria das condições de vida da população brasileira estar atrelada a ciclos de crescimento econômico não chega a ser novidade na literatura sociológica. Aqui a mobilidade econômica se dá em ondas, sopradas por cenários financeiros internacionais favoráveis, em geral devido ao aquecimento do mercado de commodities. Um desenvolvimento instável, que denota a fragilidade da ascensão e o alto risco de perda do padrão de vida conquistado nos breves momentos de bonança. Num mundo pandêmico, o Brasil sucumbe em sua fragilidade, exposta nos dados que registram aumento da fome, pobreza e miséria, desemprego e desalento.
Em função, portanto, da carga de significados vinculados ao termo classe média, acreditamos que a abordagem da nova classe média prejudicou a compreensão das mudanças recentemente ocorridas na sociedade brasileira e seus possíveis desdobramentos. É possível que tais mudanças venham a ter consequências importantes para o comportamento dos indivíduos – no que se refere às suas expectativas, percepções e atitudes perante as desigualdades –, mas estas só podem ser adequadamente exploradas por meio de uma abordagem alternativa à tese da nova classe média. Lembramos a advertência de Max Weber (1864- 1920), para quem classes sociais não formam, necessariamente, coletividades, mas compartilham chances de vida comuns. Neste caso, podem convergir no que diz respeito às expectativas e projetos de futuro, representações e percepções de justiça, igualdade e mobilidade. Cabe perguntar qual projeto de futuro é possível construir, quando grande parte da população brasileira vive em situação de risco e insegurança, emergindo ou submergindo ao sabor dos ventos. É imprescindível construir portos e pontes que possibilitem desenvolvimento social sustentável, através de políticas públicas que promovam estabilidade traduzida na vida social, econômica e política dos brasileiros.
NOTA
[nota 1]. Disponível em inglês neste link: journalofchinese sociology.springeropen.com/articles/10.1186/s40711- 020-00132-9.