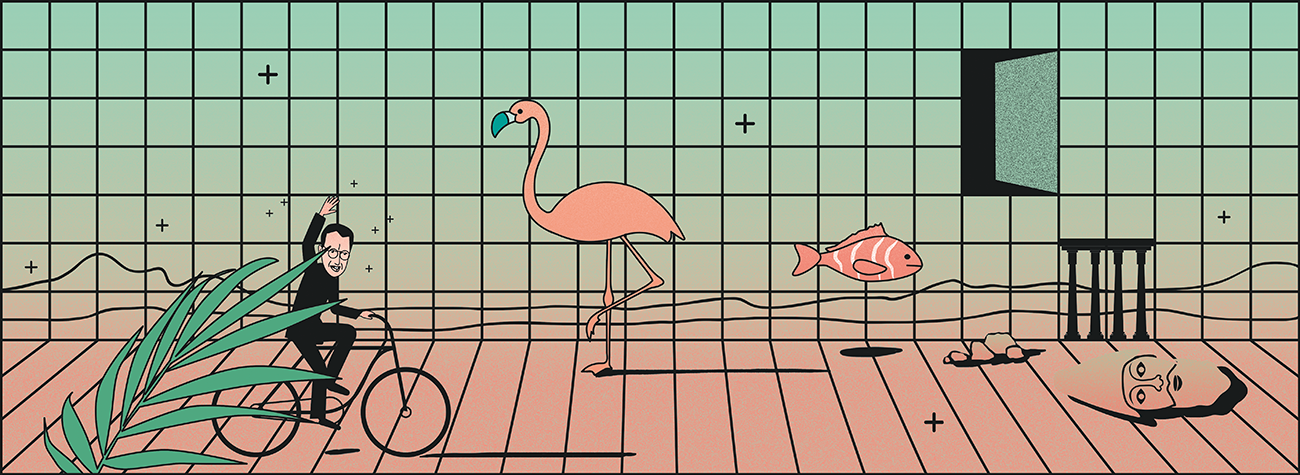
Quando o Ano Novo iluminou o globo terrestre, a notícia não foi o clichê dos fogos de artifício na Ópera de Sydney: na Austrália, o céu cor de sangue estampou as manchetes. A enormidade das queimadas espontâneas (mas potencializadas pela mudança climática) forçou as pessoas a se espremerem numa franja de areia na praia e terminou por dizimar mais de um bilhão de animais. O armagedom ecológico australiano, previsto anos antes por cientistas, traz à mente outro rastilho, este deflagrado diretamente pela mão do homem: as queimadas na Amazônia. Em um planeta no qual a certeza é a mudança climática, as catástrofes terminam inter-relacionadas — a fumaça da Austrália alcançou a Argentina e o Chile. As praias de Sydney, com águas cor de carvão, relembram as manchas de petróleo nas praias de Pernambuco, estado natal de Manuel Bandeira.
Diante do cenário digno de Mad Max, parece paradoxal festejar 90 anos do poema Vou-me embora pra Pasárgada. Ou, talvez, seja a medida mais sábia, pois, em se tratando de imaginário, a falta de utopias é tão tóxica quanto a falta de oxigênio. Revisitar o poema é procurar novas bases para se ter esperança, buscar um ânimo para se formular ideias, mesmo ingênuas, para que possamos imaginar futuros possíveis, rememorar experiências. Nos livrar, por instantes, do peso opressivo da realidade. Talvez esse seja o papel das ideias loucas e engraçadas: que, ao menos, risquem o céu como uma estrela cadente antes de nos deixar na solidão noturna diante das engrenagens históricas atuais. Por exemplo, imaginar um lugar com festa, água fresca e tempo livre à vontade. Como se faz para chegar até lá?
Com irreverência e bom humor, o texto de Manuel Bandeira convida a um passeio por outras praias possíveis, com banhos de mar agradáveis e horas para descansar. O poema foi publicado em Libertinagem (1930), livro que é considerado um marco do Modernismo brasileiro por boa parte da crítica, estabelecendo novas formas, assuntos e dicções possíveis à poesia. Condiz com a era de transição política do período, em que se assistirá ao ocaso da República Velha e à ascensão da máquina da propaganda getulista, culminando com o início da Era Vargas.
Nas páginas de Libertinagem, você encontrará velhos versos conhecidos. “— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? / — Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino”, o “Recife da minha infância”, “o meu porquinho-da-índia foi a minha primeira namorada”, entre outros. Embora todos sejam versos possivelmente familiares, nada bate a fama do refrão Vou-me embora pra Pasárgada. O verso terminou por contaminar o imaginário popular, sendo um grito de libertação e desejo. Sugere coisas díspares e agradáveis: de cenas carnavalescas, com muito sexo e alucinógenos, até descanso de qualidade, como um cochilo embalado por histórias de ninar; mistura improvável de possibilidades, chegou a inspirar até o samba-enredo do aniversário de 50 anos da Portela. Até hoje, a leitura do poema abre sorrisos em alguns estudantes em sala de aula, quando finalmente compreendem qual é a verdadeira graça de ler poesia.
O poema traz a marca típica de Manuel Bandeira: a oscilação entre a euforia e a melancolia. Após sugestões criativas do que se pode fazer em Pasárgada, festas e brincadeiras, há o acometimento por uma tristeza abismal. O tom exagerado do mergulho faz do trágico um tempero para a graça do poema.
Dono de uma biografia marcada pela luta contra a tuberculose, o poeta vivenciou o abraço da tristeza. Aos 17 anos, o jovem matriculou-se na Escola Politécnica em São Paulo, tendo a carreira do pai como inspiração. A promessa da família, entretanto, sofre um revés: acometido por crises violentas de uma doença com estigma de incurável, Manuel passa por uma peregrinação pelas mais diversas cidades em busca de cura: Campanha, em Minas Gerais; Petrópolis e Teresópolis, no Rio de Janeiro; Maranguape, Quixeramobim e Uruquê, no Ceará; culminando na internação no sanatório de Clavadel, na Suíça, segundo a pesquisadora Ângela Pôrto no detalhado artigo A vida inteira que podia ter sido e que não foi: trajetória de um poeta tísico (na revista História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 6, n. 3, 2000).
Tudo isso lhe consumiu não somente seus anos de juventude, com a morte e a insuficiência respiratória a lhe rondar o sono, mas empenhos financeiros e emocionais de toda a família. A irmã e a mãe atuaram como enfermeiras muitas vezes e o núcleo familiar foi afetado pelos desgastes com as sucessivas mudanças do poeta em busca de uma cidade com “bons ares”. Segundo Pôrto, embora Bandeira tenha se dedicado à composição, redação e tradução, foi somente quase aos 50 anos de idade que pôde ser nomeado inspetor do ensino secundário, quando “renuncia ao montepio paterno, pondo um ponto final à sua condição de invalidez”.
O livro Libertinagem foi publicado em um momento no qual Bandeira já incorporara a disciplina aprendida no sanatório suíço, assim como compreendia melhor aspectos médicos da doença. Felizmente, o poeta teve uma vida longeva, falecendo somente aos 82 anos de hemorragia gástrica. Conseguiu controlar a tuberculose durante muitas décadas, com cuidados específicos e um cotidiano sem excessos.
É desse homem que escutamos o grito Vou-me embora pra Pasárgada, uma canção de alguém que consegue, enfim, respirar e sentir-se com os dois pés na vida.
UM LUGAR DE TODAS AS POTENCIALIDADES
Afinal de contas, onde é Pasárgada? Além de nomear flats e hotéis brasileiros (quem não quer passar umas férias por lá?), trata-se de uma cidade real: Pasárgada foi uma das quatro capitais do Império Aquemênida de Ciro, ao lado das cidades Babilônia, Ecbátana e Susa. Hoje é um sítio arqueológico no Irã, considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, e suas colunas estampam chaveiros e chocolates vendidos a turistas nos extensos mercados de rua em Teerã. Inclusive, até nomeia o “Banco Pasárgada”, instituição iraniana com agências nas ruas agitadas da capital persa.
Mas a Pasárgada do poema não tem muito a ver com o turismo no Oriente Médio: é um não-lugar, um local imaginário da forma mais perfeita que Bandeira conseguiu conceber. A evocação de um lugar com todas as potencialidades de cura, com exercícios e descanso, suspensão das repressões sexuais e realização de tantos desejos: uma utopia.
O termo “utopia” foi inventado por Thomas Morus no livro clássico de 1516 Utopia, a respeito da ficcional nova ilha Utopia, utilizando o radical grego “topos” (lugar) na formação da palavra. Designa um local perfeito, livre de opressões, uma criação na qual imaginação e possibilidades políticas se tornam os fios das tramas narrativas. Por exemplo, na literatura, a ideia de uma sociedade mais igualitária para mulheres é discutida na Idade Média em O livro da cidade de senhoras (1405), de Cristina de Pisano, que criou uma cidade alegórica de mulheres merecedoras da sua admiração, discutindo-se os feitos de personagens como a Rainha de Sabá, Cassandra e até a Virgem Maria; em A rainha do ignoto (1899), a cearense Emília Freitas cria uma sociedade secreta de mulheres de grande coragem; em Os despossuídos (1974), Ursula Le Guin propõe uma sociedade anarquista e feminista em um dos dois planetas desta ficção científica. Ao criar utopias, cada uma das autoras apresenta as tintas de seus momentos históricos, cristalizando visões de mundo específicas.
Lidas com a distância dos anos, as propostas literárias podem se tornar ingênuas, equivocadas, incompletas, pois se algo é certo no pensamento utópico é o seu fracasso. Geradas como ideal, as utopias, ao serem confrontadas com a complexidade da materialidade do mundo, terminam por se transformar em outras coisas, com resultados imprevistos. Longe de serem frágeis, o aspecto mais didático das utopias talvez seja nos deixar claro nossa incapacidade de imaginar um outro mundo radicalmente diferente do que conhecemos — somente a prática política cotidiana e a mudança histórica poderiam engendrá-lo. Como estrelas cadentes, as ideias de perfeição riscam os céus e, depois, nos deixam a sós, no escuro, com nossos legados diante da História.
Entretanto, mesmo sendo fugidias, a pergunta mais capciosa seria: conseguimos suportar a vida sem formularmos sonhos? Parece ser impossível continuar vivendo sem a eterna aposta fáustica, a busca pelo mundo melhor, imaginar além do que se conhece. Sem utopias, adoecemos. Como diria a antropóloga Rosana Pinheiro-Machado, “a esperança é o único antídoto contra o que nos sufoca” (Amanhã vai ser maior, Planeta, 2019).
A utopia é um lugar cantado por sereias de duas faces: a primeira face, radiosa e voltada ao futuro, sempre tranquila e confiante; a segunda, voltada ao passado, transtornada ao ver suas predições mais sonhadoras se desfazendo em contradições. Ambas, com voz única, possuem o poder sobre todos os começos, pois, com o semblante da dúvida e do sonho, convidam, em uma única voz, ao mergulho: “Vem comigo?”
Manuel Bandeira, ao propor sua utopia pessoal, traz tudo o que seu contexto histórico e biográfico lhe negou: liberdade absoluta, poder político, bom condicionamento físico. Assim, ao menos por alguns segundos, ao declamar o poema, podemos ter o vislumbre de toda a potência do que o mundo e a vida poderiam ser e não são.
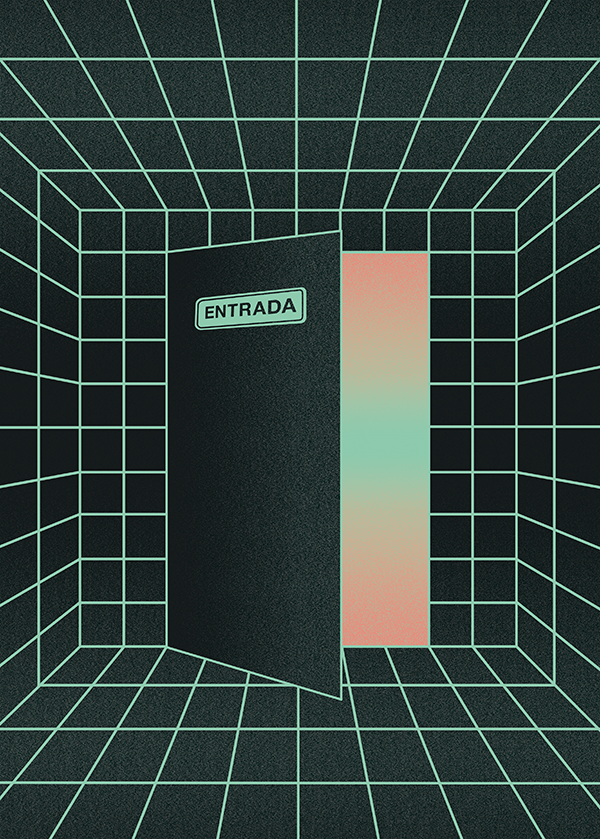
COMO EVITAR A COLONIZAÇÃO DO FUTURO?
“É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.” Essa frase, atribuída a Fredric Jameson, autor de Archaeologies of the future: the desire called utopia and other science fictions (Verso, 2005), condensa o conformismo do estado de coisas e aponta tanto a dificuldade quanto a urgência de se formularem novas utopias para o século XXI. Quem anda na moda mesmo são as distopias — o lugar do horror total, como 1984, de George Orwell; O conto da aia, de Margaret Atwood; e A parábola do semeador, de Octavia Butler. Embora romances distópicos possam ser críticos e sejam muito relevantes para termos um panorama do que virá caso adotemos algumas vias de mão única, esses romances lançam mão de um arcabouço imaginativo menos amplo, pois trazem a dinâmica de afirmação do “não há outro caminho possível”. Aliás, revisitar a História é encontrar muitas distopias tenebrosas, a exemplo do genocídio de povos originários das Américas e da escravização de povos africanos, duas fraturas responsáveis por grandes abismos sociais de hoje. As utopias nos exigem um repertório mais ambicioso e amplo, considerando que o mais difícil é imaginar como sair do atual estado de coisas.
Ao mesmo tempo em que a distopia anda popular, a esperança é resumida a uma rua de caminho único: o sucesso individual. O termo “desenvolvimento pessoal” virou febre e está presente em slogans que estampam de camisetas a canecas de café. No Brasil, como não poderia deixar de ser, muita gente lucra ao vender esses sonhos em púlpitos, em vídeos, em livros best-sellers. Essa bibliografia, aliás, é bastante útil, pois é fundamental saber como lidar com a chefia, aproveitar melhor o próprio tempo e buscar uma profissão que atenda a anseios pessoais — todo mundo tem boletos para pagar. Entretanto, a crítica aos conselhos de elevador é necessária quando localizam a raiz de todos os males numa suposta “falta de vontade” ou na “falta de espírito empreendedor”, como se o que vivenciamos não possuísse uma raiz muito mais profunda. O sonho que se vende é individualista, um famoso salve- -se quem puder em épocas de crise. Até o termo “desempregado” é evitado, pois muita gente pode muito bem se cadastrar numa plataforma e fazer serviços de entrega, não é mesmo?
Na época em que donos de plataformas concentram quantidades imensas de poder e dinheiro — a exemplo de Jeff Bezos, descrito pela Forbes como “mais rico que qualquer outra pessoa no planeta”, dono da Amazon —, paradoxalmente se vendem fórmulas repisadas por empresários de palco e de culto, ignorando-se que geralmente grandes fortunas são herdadas, assim como mantidas, por mecanismos complexos de privilégios. Imagine se formos rastrear por onde anda hoje a riqueza das importantes famílias brasileiras escravocratas do final do século XIX.
Essa esperança desidratada e financiada a parcelas pode até saciar nossa fome momentânea por outros mundos possíveis. Inclusive, se não fosse assim, o novo pacto do trabalho não seria tão atraente. É como se um gênio maluco da lâmpada tivesse nos concedido o desejo da “jornada de trabalho mais flexível”, transformando todas as horas do dia em jornada de trabalho. Nunca antes a precariedade no trabalho foi tão cantada como um augúrio para a fortuna. Se o verbo é “empreender”, os complementos são possuir um celular carregado e uma maquininha de cartão, cujos superpoderes são anunciados em outdoors de instituições bancárias, eletroeletrônicos que permitem jornadas surreais de quem pedala 12 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo entregas, e do motorista de aplicativo que, neste momento, já dirige há 16 horas. Vai ser isso o futuro?
Uma foto triste que ganhou as redes sociais em 2019, feita por Tiago Queiroz para O Estado de S. Paulo, retrata bem o fenômeno: dois entregadores extenuados descansando entre turnos na Av. Faria Lima. Suas cabeças estão protegidas dentro das caixas de isopor de suas mochilas, típicas de aplicativos de entregas como Rappi e UberEats. Uma estátua vela o sono deles na avenida. “Para mim, é uma foto que retrata a precarização do trabalho como a gente conhecia. Fico triste quando vejo aqueles meninos da foto, eles estão quase em situação de rua”, resume o fotógrafo (Estadão, via Twitter, 28/12/19).
O que a foto não revela é que a escultura das Musas da Arquitetura e Engenharia, feita por Galileo Emendabili, pertencia ao acervo do banqueiro do falido Banco Santos, Edemar Cid Ferreira, e estão ali por determinação da Justiça Criminal, segundo Bruno Moreschi (“Edemar, o artista”, Revista Piauí, ed. 25, 2008). O conjunto de foto e subtexto não poderia ser mais perfeito para se retratar o verdadeiro espírito “faria limer”: a precarização galopante para alimentar os lucros de uma elite cuja retidão é absolutamente discutível.
Como se faz para não perder a cabeça? Para se ter um fiapo de algo que se pareça com esperança? Não há resposta ainda. Aliás, o fracasso de qualquer resposta certeira é útil, pois nos traz a necessidade de pensar além, investigar possibilidades, aguçar a imaginação sobre outras saídas possíveis, sobre o que seria o bem-viver. Nos termos de Maria Elisa Cevasco (na revista Terceira margem, n. 12, 2005, p. 64), é urgente a tarefa de procurar reverter a “incessante obra de colonização do futuro”.
Enquanto não se tem uma resposta, talvez rir de si mesmo possa ser um alívio. Não é uma solução, é um remendo. Inclusive, “rir de si mesmo” deve constar, com justiça, em alguma página sábia sobre desenvolvimento pessoal.
O PRESENTE DO HUMOR
Uma frase genial diz que o humor tem a mesma utilidade dos panos de prato: permite que toquemos em assadeiras recém-saídas do forno sem queimarmos os dedos. Nos textos, possibilita que abordemos assuntos candentes com delicadeza. O humor trata de assuntos difíceis. Ao berrar Vou-me embora pra Pasárgada, essa voz poética zomba de tudo aquilo de que não pode se livrar, ri de si mesmo e constrói um novo mundo, no qual possui muito poder: “Lá sou amigo do rei”.
Nessa tirania de criar o suposto reino, o eu-trocista não detém apenas poder, mas pode satisfazer diferentes desejos sexuais: “Lá tenho a mulher que eu quero / Na cama que escolherei”, “Tem prostitutas bonitas / Para a gente namorar”. Pode ainda experimentar psicotrópicos, afinal, há também alcaloide à vontade. Com drogas legalizadas, nessa outra civilização, existe ainda tudo o que parecia então futurístico: telefone automático e um processo seguro de impedir a concepção. Hoje, 90 anos depois da publicação do poema, até utilizamos o telefone automático, mas não há ainda métodos anticonceptivos infalíveis (inclusive, espera-se que as mulheres em Pasárgada possam consentir com tantos desejos e, ainda, que as trabalhadoras sexuais tenham seus direitos assegurados).
Além do futurismo, Pasárgada também apresenta uma face arcaica e estranha, remetendo a tempos coloniais. Evoca-se a espanhola Joana de Castela (1479-1555), a rainha à qual nunca foi permitido reinar, alegando-se que apresentava doenças mentais, sendo sempre tutelada e substituída. Também surge a figura da Mãe d’Água, entidade que povoa o imaginário colonial brasileiro, tida como criatura perigosa dos rios, ora serpente ora sereia. No poema, Joana, a Louca de Espanha, surge no paradoxo de ser “contraparente / Da nora que nunca tive”, e a Mãe d’Água mostra-se uma boa contadora de histórias para ninar alguém cansado de um dia cheio.
O poema não fica somente nos excessos. Afinal, em Pasárgada, tomam-se muitos cuidados com a saúde: “e como farei ginástica!” Numa mistura de cenários de veraneio com brincadeiras infantis, há pedaladas de bicicleta, cavalgadas em burro bravo, subida no pau de sebo e banhos de mar. Após tanto exercício e brincadeiras, existe tempo para sombra, água fresca e carinho: na beira do rio, aparece a Mãe d’Água para lhe contar as histórias que escutara na infância. Na rotina, não há nunca a menção a trabalho ou a algo que seja supostamente desagradável.
Entretanto, mesmo com toda a festa, mesmo com todo o descanso, impossível que uma melancolia não bata. Aparece o “triste de não ter jeito”. Como todas as utopias, Pasárgada não resiste por muito tempo e começa a se desfazer. No poema, a melancolia infiltra-se e o mundo começa a se esgarçar. Por isso, ao final, é necessário gritar novamente o Vou-me embora pra Pasárgada para que este sonho se acenda mais uma vez, permaneça conosco mais um pouco, vibrante e vivo até conseguirmos lidar com a escuridão do presente. Ou até criarmos uma nova utopia para nos iluminar.
Dizem que, no Brasil, o ano somente começa após o Carnaval, os dias de reinado da sátira e da festa nas ruas. Não há inteligência maior do que declarar o início do ano após dias vivenciando o presente de forma intensa. Mesmo que você seja das pessoas que preferem fugir de qualquer folia, a época faz um convite sábio: esteja entre pessoas queridas, não se leve tão a sério e exercite as possibilidades, mesmo imaginárias, do próprio desejo. O psicanalista Christian Dunker, ao responder à pergunta “como encontrar a felicidade em tempos sombrios” (The Intercept Brasil, 26/10/19), diz uma frase que anotei no caderninho: “Experimente intensamente o momento presente, em sua infinita tragédia e devastação”. Acrescentaria: e com a certeza de sua finitude.
A arte é uma forma de embriaguez. Ler Vou-me embora pra Pasárgada em voz alta talvez não possa nos fazer nada de concreto pelo planeta. Não é capaz de limpar as areias das praias, afastar a fuligem dos ares. Nem diminuir a desigualdade entre as pessoas, distribuir a fortuna dos bilionários. Essa certeza do fracasso total ao ler um poema em voz alta nos faz rir um pouco. É cafona. Ação que nos banha na mais completa humanidade.
Então, qual a tua Pasárgada para 2020?
Pode errar, cometer injustiças, falar besteira, afinal, é Carnaval. Estando o mundo do jeito que está, por qual motivo não imaginar algo além? O que você faria com seus monstros mitológicos do passado, quais seriam seus arroubos futurísticos e teus desejos encarnados? Você não paga nada, ao menos hoje; imaginar é de graça. Poetas não conseguem mudar o mundo, mas botam a gente comovido como o diabo.
E quando 2020 realmente começar, quando a Quarta-Feira de Cinzas vier varrer todos os vestígios do que foi a folia, quando os cortejos voltarem a ser regidos pelos aplicativos, pelo tempo e pelo trabalho, você pode observar no asfalto algo que brilha. Pode ser ainda purpurina das fantasias ou talvez somente mica, aquela partícula minúscula fulgurante imiscuída na cobertura asfáltica. Algo que resta ali brilhante, reminiscência de dias em que nos apaixonamos pelo presente e pensávamos num outro mundo. Como é que era minha Pasárgada mesmo?