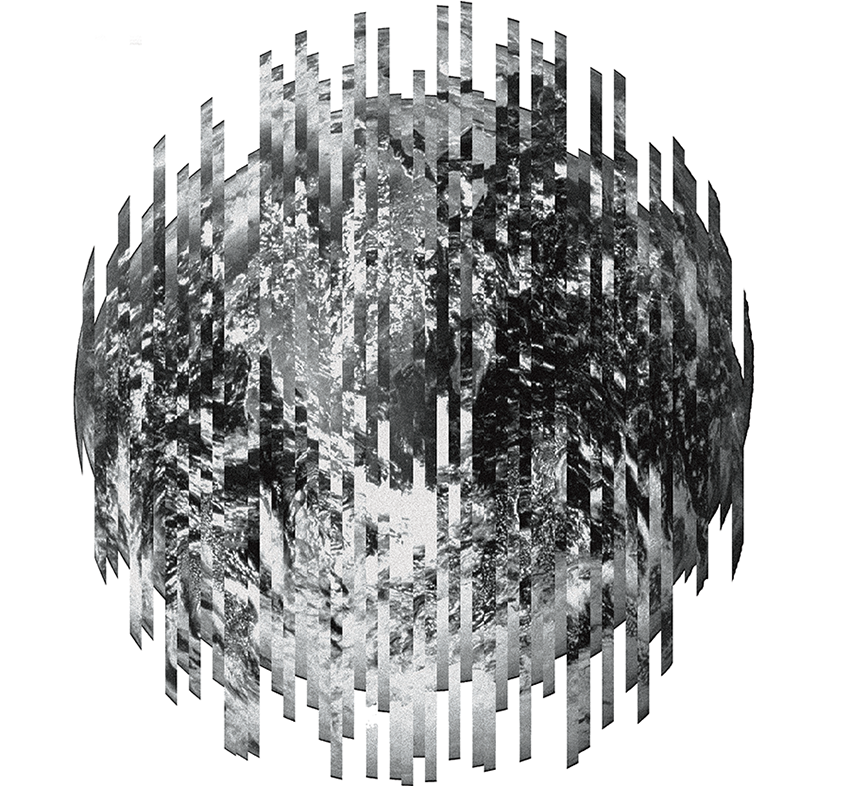
Conheça a série Botão Vermelho, iniciativa do Suplemento Pernambuco em parceria com o Instituto Serrapilheira, no editorial abaixo, assinado pela editora e curadora Carol Almeida. Clique aqui e leia o primeiro texto da série, um conto inédito da escritora e pesquisadora Ana Rüsche.
***
Costuma-se brincar que não existem ateus dentro de aviões que atravessam fortes turbulências. Jogando com a mesma lógica, mas revirando essa presunção pelo avesso, talvez pudéssemos afirmar que o negacionismo da ciência teria uma vida breve num cenário pandêmico em que a única resposta a mortes em massa seria a preservar a ciência e estimular o seu desenvolvimento. E, no entanto… Boa parcela da humanidade vem encenando rituais de celebração da ignorância, num obscurantismo arraigado em valores moralistas e individualistas que desafiam evidências científicas.
Nesse cenário de turbulências éticas orquestradas por grupos sociais que temem qualquer pensamento mais elaborado para além dos altos e espessos portões de ferro da desinformação, surge a série Botão Vermelho, resultado de uma parceria entre o Instituto Serrapilheira, instituição privada, sem fins lucrativos, de fomento à ciência no Brasil, e o Pernambuco. O nome do projeto remete não só à ideia de urgência, mas a um imaginário de narrativas distópicas. Nossa intenção é fazer com que alguns trabalhos científicos atuem como faíscas para que escritoras e escritores brasileiros possam criar universos que flertam com a ficção científica, a fantasia, o realismo mágico, o afrofuturismo e a literatura de gênero de forma geral. Os pontos de partida serão trabalhos desenvolvidos por pesquisador.a.s brasileiro.a.s que atuam em universidades públicas e recebem apoio do Serrapilheira.
Para constelar esses universos imaginados, convidamos Ana Rüsche, Antônio Xerxenesky, Socorro Acioli, Fábio Kabral, Itamar Vieira Junior e Eliana Alves Cruz, escritor.a.s com experiências, interesses e linguagens distintas na literatura brasileira. Juntos, elas e eles vão passear por territórios de tempos e espaços próprios que, se surgem a partir de provocações científicas, derivam para ambientes da imaginação e da fabulação que não precisam responder ao mundo tal qual o conhecemos. Ao longo dos próximos seis meses, a série vai pensar distintos modos de existências, atravessando temporalidades múltiplas e espaços os mais variados — dos vulcões às florestas, dos desertos ao fundo do oceano.
“Imaginação” e “fabulação” são duas palavras centrais para apresentar a série. Os percursos etimológicos da “imaginação” são, por si só, reveladores de como a ciência e a literatura encontram intersecções em suas naturezas distintas. Na origem da palavra reside a ideia de um pensamento por imagens, ou seja, de uma construção de conhecimento a partir da capacidade de relação com as imagens, o imago (o filósofo Didi-Huberman costuma lembrar que imago é também o nome que se dá ao processo de metamorfose da lagarta em borboleta; a natureza mutacional está, portanto, na essência da ideia de imagem). É somente depois do século XVIII que a palavra “imaginação” adquire uma acepção, até hoje muito comum, de fantasia criadora relacionada a uma ideia de “falso”, podendo ter uma conotação negativa.
Imaginar, no entanto, é o exercício mais fundamental tanto da ciência quanto da literatura . O filósofo Peter Sloterdijk lembra que quando Copérnico concluiu que a Terra não era o centro do universo e orbitava ao redor do Sol, a certeza de que o mundo das aparências era um mundo ilusório provocou uma vertigem paradigmática: “O choque copernicano demonstrou que não percebemos o mundo como é, mas que precisamos imaginar a sua ‘realidade’ pela reflexão, contrariando a impressão dos sentidos para ‘compreender’ como ela é”. O Sol subindo e descendo no horizonte são, pois, percepções ilusórias.
A ideia de fabular, por sua vez, está aqui posta tal como a historiadora Saidiya Hartman faz uso dela. Hartman trabalha com a premissa de uma “fabulação crítica” quando trabalha com arquivos históricos de populações negras. Ao buscar esses arquivos e precisar relatar as tantas histórias de traumas e violências que passam por eles, ela se vê no desafio de não reencenar a mesma violência no próprio gesto do relato, e procura então trabalhar com a premissa do “e se”. Eis aí um operador teórico para tentar “imaginar o que não pode ser verificado”. Ou seja, imaginar as outras histórias possíveis ausentes que não são contadas por esses arquivos, histórias que vão além do enclausuramento do trauma. Tal como no exercício literário da ficção, não se trata de “mentir”, mas de preencher lacunas com mundos outros.
Durante os próximos seis meses, a pulsão do “e se” será central para refletir sobre as infinitas relações entre literatura e ciência. E pensar como o suposto embate binário entre Mythos (a narração do mundo) e Logos (a explicação do mundo) tem vários pontos de encontro no gesto de reconhecer a existência do invisível. Esse invisível tanto das histórias contadas, quanto dos vírus — biológicos e sociais — que não vemos, mas que estão bem acomodados ao nosso redor.