
Conta-se que em uma das reuniões iniciais de organização [nota 1] do movimento negro no Rio de Janeiro,[nota 2] em 1974, o primeiro texto escolhido para discussão foi Por uma história do homem negro [nota 3] da historiadora, professora e escritora Maria Beatriz do Nascimento (1942-1995) – militante essencial para a luta antirracista no país, e cuja passagem completa, no dia 28 de janeiro, 25 anos.
No texto, sua primeira contribuição pública, aparecia o imperativo que mobilizou sua trajetória intelectual: “Devemos fazer a nossa História, buscando nós mesmos, jogando nosso inconsciente, nossas frustrações, nossos complexos, estudando-os, não os enganando”. [nota 4]
Dos anos 1970 aos 1990, Beatriz pesquisou, produziu, lecionou e se propôs a refletir sobre uma perspectiva que reposicionasse homens e mulheres negras na História como protagonistas. Ela, como outros intelectuais negros da mesma geração, questionou as interpretações sociais e as narrativas históricas consolidadas que tornavam a negritude sinônimo de escravidão e objetificação.
Através de suas pesquisas, procurou reconstituir a história dos quilombos no Brasil, considerando-os como sistemas sociais e políticos alternativos, pautados em valores próprios, dissonantes em relação aos valores dominantes de seu tempo histórico. Empenhou-se em apresentar novas epistemologias que contemplassem a experiência e a especificidade histórica negra. Dentro das universidades, o racismo era definido a partir dos modelos da segregação racial dos Estados Unidos ou do apartheid da África do Sul, que se diferenciaram dos modelos brasileiro e latino-americano. Beatriz desenvolveu suas pesquisas nesse contexto específico, marcado por enfrentamentos e tensões decorrentes dos questionamentos que a intelectualidade do movimento negro trazia ao desafiar concepções e discursos acadêmicos estabelecidos que negavam o racismo no país. Para a historiadora, “a democracia racial brasileira talvez exista, mas em relação ao negro, inexiste. As manifestações preconceituosas são tão fortes que, por parte de nossa intelectualidade, dos nossos literatos, dos nossos poetas, da consciência nacional, vamos dizer, somos tratados como se vivêssemos ainda sob o escravismo”. [nota 5]
TRAJETÓRIA
E a verdade é que eu sou uma moça negra de Sergipe, que se mobiliza em ter tido tantas transmigrações, tantos desterros. Estou sempre em busca de um território não-terra. Eu queria um Quilombo não necessariamente aqui. Um quilombo onde, eu sei, algum antepassado meu viveu. [nota 6]
Beatriz Nascimento nasceu em 17 de julho de 1942, em Aracaju (SE). O pai, Francisco Xavier do Nascimento, era pedreiro e a mãe, Rubina Pereira do Nascimento, dona de casa. A família, composta por 10 filhos, mudou-se para o Rio de Janeiro na década de 1950 em busca de melhores condições de vida.
Contrariando as estatísticas, ela acessou o ensino universitário e graduou-se em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1971. Um pouco depois, cursou a pós-graduação lato sensu em História do Brasil na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde iniciou o mestrado, cuja matrícula posteriormente trancou. [nota 7]
Beatriz afirmava que suas inquietações sobre a ausência da presença negra na História do país vinham do período escolar, e foi o estudo da própria História que lhe permitiu tomar consciência de seu papel ativo na sociedade brasileira. As reflexões a respeito da presença negra na formação social eram escassas naquele período, e eram orientadas em torno da questão socioeconômica, que considerava, quase sempre, a população negra como um problema à sociedade de classes.
Na década de 1970, trabalhou como pesquisadora no Arquivo Nacional e na Fundação Getúlio Vargas. Também foi professora na rede pública de ensino. Além disso, ministrou diversos cursos, participou de simpósios, seminários nacionais e internacionais. Voltou à vida acadêmica em 1992 para cursar o mestrado em Comunicação Social na UFRJ, sob a orientação de Muniz Sodré.
Visitou Angola em 1979 e o Senegal na década de 1980, sendo, provavelmente, a primeira militante do movimento negro a receber um convite para visitar um país africano em uma época que o trânsito internacional de militantes e intelectuais negros não era frequente em função da ditadura militar (1964-1985), que criava uma série de empecilhos para realização de viagens internacionais.
Na UFF, Beatriz, a antropóloga Marlene Cunha [nota 8] e outros estudantes fundaram o Grupo de Trabalho André Rebouças [nota 9] (GTAR), composto por alunos/as e ex-alunos/as negros/as de diferentes cursos da universidade. O GTAR foi, possivelmente, o primeiro coletivo negro estudantil do país. Organizou, em novembro de 1975, a Semana de estudos sobre a contribuição do negro na formação social brasileira, evento que reuniu pesquisadores e especialistas das áreas de Humanidades que trabalhavam com questões ligadas às relações raciais e às temáticas negras e africanas. [nota 10]
Outra contribuição imprescindível a mencionar foi sua destacada presença na Quinzena do negro da Universidade de São Paulo, um conjunto de atividades acadêmicas organizadas pelo sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira, então estudante de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da instituição. No período, ele, o primeiro estudante autodeclarado negro do programa, levou para dentro da universidade o debate em relação à temática negra. [nota 11] Ao contrário dos eventos que ocorriam, esse foi marcado pelo lócus de enunciação de sujeitos negros na produção intelectual sobre as relações raciais, História, religião, cultura e áreas afins. A Quinzena ocorreu de 22 de maio a 8 de junho de 1977 e foi organizada em torno dos 89 anos da Abolição. Sobre ela, disse Beatriz: “Eu acho de extrema importância esse ciclo de palestras que Eduardo procurou fazer aqui em São Paulo porque realmente a gente precisa fazer uma série de reformulações, de críticas, a respeito de todos os estudos que foram feitos a respeito do negro”. [nota 12]
Uma das partes mais conhecidas de seu legado intelectual é o belíssimo documentário Ôrí (1989), dirigido pela socióloga e documentarista Raquel Gerber. “Ôrí significa a inserção a um novo estágio da vida, a uma nova vida, um novo encontro. Ele se estabelece enquanto rito e só por aqueles que sabem fazer com que uma cabeça se articule consigo mesma e se complete com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, com a sua origem e com o seu momento ali”, explica Beatriz. [nota 13]
O documentário acompanhou a historiadora, baseou-se em suas pesquisas e a teve como narradora. A câmera de Ôrí “seguiu o movimento negro” de 1977 a 1988, viajou até a África para melhor compreender aspectos históricos, sociais e culturais. Em suas palavras: “Trata-se de filme fundamentado em minha trajetória de vida enquanto mulher, enquanto negra e especializada em História do Brasil, assim como minha inserção no movimento político de afirmação da negritude”. [nota 14]
POR UMA HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL
(…) o preto, diante da História do Brasil, se sente o eterno escravo, o eternamente vencido, incapaz de reagir diante da situação que foi colocado aqui. [nota 15]
Beatriz tinha como projeto produzir uma nova abordagem historiográfica que inserisse pessoas negras como sujeitos da História, rompendo com a narrativa do “lugar do escravo”, do objeto: “A coisa que mais chocava era o eterno estudo, quando se referia ao negro, sobre o escravo, como se durante todo o tempo da História do Brasil nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para a fazenda, para a mineração”. [nota 16]
Havia uma História a contrapelo a se escrever, como propôs o filósofo Walter Benjamin, a partir de outras abordagens e vieses. “Nós éramos sempre os contribuidores de uma cultura (…) mas isso não me impossibilitou de ver, através das entrelinhas da História do Brasil, toda uma participação maciça, independente muitas vezes, e forte do preto dentro do Brasil”. Ela se pautou na prerrogativa de que era imprescindível romper com a ideia dos vencidos da História para alcançar a liberdade: “O negro não pode ser liberto, enquanto ele não esquecer o cativeiro, não esquecer no gesto, que ele não é mais um cativo”. [nota 17]
Nessa acepção, pretendia preconizar uma História do negro no Brasil que levasse em conta sua agência e as dimensões de sua subjetividade, destacando que, mesmo em condições e contextos adversos, pessoas negras buscavam formas de estabelecer seu modo de vida tradicional. Salientou, assim, a capacidade de ação, intervenção e tomada de decisão desses sujeitos diante de possibilidades extremamente restritas, sendo essa uma marca permanente de humanização: “O quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser um guerreiro. E também é o recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria. A continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso e mesmo quando ele quer matar você. A resistência. Uma possibilidade nos dias da destruição”. [nota 18]
Por esse ângulo, os quilombos eram muito mais complexos do que simplesmente locais para onde seguiam os escravizados em fuga da opressão. A interpretação da autora procurava evidenciar os processos de humanização (“um momento de paz”) alcançados quando se poderia viver a paz quilombola, conceito que ela criou para definir os momentos em que os quilombos tentavam se estabelecer:
“Os momentos de paz correspondem, basicamente, ao desenvolvimento social e econômico dos Quilombos. Períodos em que se desenvolveram a agricultura, a pecuária, a fabricação de instrumentos de trabalho e de armas para a defesa. Nestes períodos, os Quilombos chegaram a estabelecer relações econômicas dentro do sistema, alugando suas pastagens para o gado de pequenos proprietários, comerciando seus produtos com os habitantes das vizinhanças. Por isso, a repressão que sofreram não se explica, ou não se esgota, no fato de que os negros rebelados prejudicavam a sociedade colonial diminuindo seu potencial de mão de obra. A sociedade os reprimiu mais duramente em momentos de crise econômica, quando os quilombos vitoriosos chegaram a representar uma ameaça, como seus concorrentes dentro do próprio sistema.” [nota 19]
Dos percursos da pesquisa, a historiadora revela, em um texto, a metodologia que empregou em sua pesquisa sobre os quilombos de Minas Gerais, onde procurou por localidades que, segundo fontes históricas, tinham nomes de antigos quilombos. [nota 20] As etapas seguintes eram estudo de campo, uso da História oral, etnografia e observação participante. Algumas hipóteses direcionaram o andamento do trabalho: 1) o que a historiografia brasileira nomeava como quilombos eram “movimentos sociais arcaicos de reação ao sistema escravista, cuja particularidade foi de inaugurar sistemas socais variados, em bases comunitárias”; 2) apesar dos sistemas sociais serem distintos, eram nomeados com o conceito único de quilombo, ainda que houvesse diferenças institucionais sobre esses sistemas; 3) os sistemas sociais alternativos – os quilombos – mantinham relação com os sistemas sociais dominantes, dependo dele para ter ou não êxito; 4) havia um continuum histórico em relação às permanências geográficas da população negra em determinadas localidades, ou seja, “as áreas de onde se localizaram ‘quilombos’ no passado supõem uma continuidade espacial, preservando ou atraindo populações negras no século XX”. Muitas dessas áreas, de acordo com a documentação levantada pela historiadora, correspondiam a áreas de favelas ou antigas favelas no Rio de Janeiro. “Um exemplo: estudando-se a documentação da polícia do século XIX, percebe-se que determinadas regiões do Rio de Janeiro, como o Catumbi, os morros de São Carlos e Santa Marta e outras favelas atuais foram, anteriormente, lugares onde existiam quilombos. Ou, durante a seca do Nordeste em 1877, os grupos migrantes que se dirigiam para a Amazônia estabeleceram-se em núcleos formados por ex-quilombolas. A continuidade histórica aí pode ser percebida mesmo ao nível geográfico.” [nota 21]
Os locais onde fundavam quilombos possuíam características geográficas bastante recorrentes, “uma sensação de espaço aberto, diríamos, oceânica e infinito. Figuram, por isso, as características de fronteira, não só geográfica, como também demográfica, econômica e cultural que estas organizações possuem”. [nota 22]
Em 1977, durante sua apresentação na Quinzena do negro, ela pontuou as relações entre a constituição dos quilombos, a agregação e os sentidos da humanização negra: “(…) todo o motor do colonialismo fez a desagregação dele como homem, como cultura, como sociedade, no momento em que ele se aglutina, ele sempre está repetindo, vamos dizer assim, a essência disso, a essência do que teria sido o quilombo, sabe? (…) a ordem social, a repressão, é que chamou isso de quilombo, que é um nome negro e que significa união. Então, no momento em que o negro se unifica, se agrega, ele está formando um quilombo, o nome em africano é união”. [nota 23]
Dentro dessa perspectiva, compreendem-se as razões pelas quais o quilombo foi transformado em um conceito político para o movimento negro. “A retórica do quilombo, a análise deste como sistema alternativo, serviu de símbolo principal para a trajetória deste movimento. Chamamos isto de correção da nacionalidade: a ausência de cidadania plena e de canais reivindicatórios eficazes, a fragilidade de uma consciência brasileira do povo, todos esses fatores implicaram numa rejeição do que era considerado nacional e dirigiram esse movimento para a identificação da historicidade heroica do passado.” [nota 24]
Observa-se que o conceito contempla a unidade, a autoafirmação de homens e mulheres que lutaram pela sua própria liberdade, isto é, a agência negra, a capacidade de empreender: “Por ter sido durante três séculos concretamente uma instituição livre, paralela ao sistema dominante, sua mística vai alimentar os anseios de liberdade da consciência nacional.” [nota 25]
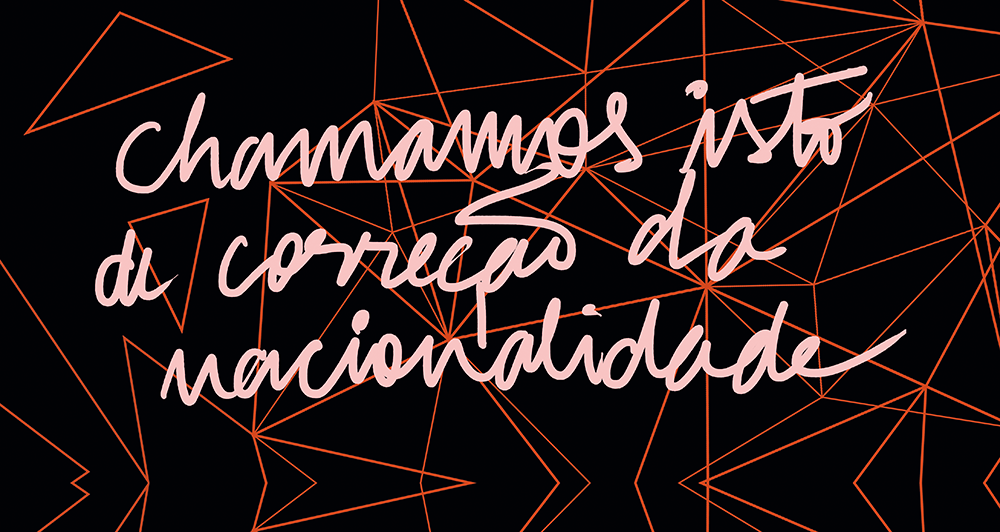
RAZÕES PARA O ESQUECIMENTO
Pelos estudos que realizou, Beatriz Nascimento foi precursora de uma nova História Social por romper com determinadas narrativas mitificadas e estereotipadas ancoradas na reificação associada ao lugar dos vencidos destinado à população negra. Sua pesquisa sustentava-se em extensa documentação que tinha como propósito observar como, no período colonial, homens e mulheres negras desenvolveram sistemas sociais alternativos que foram genericamente nomeados quilombos – um conceito que nomeava uma diversidade de arranjos sociais que variaram, podendo incluir, por exemplo, de 5 mil a 15 mil pessoas, como foi o caso de Palmares.
Apesar da importância, relevância e volume de trabalho, a autora é pouco conhecida e lida. Não há um reconhecimento formal de suas contribuições no campo da historiografia brasileira. A pergunta que fica é: como uma obra tão inovadora, que adiantava pressupostos da História Social brasileira de hoje, ainda não é considerada?
Quais seriam as razões pelas quais há poucas referências e circulação de sua produção? Conjecturo respostas para essa negligência: a permanente desconfiança da academia com a obra de pesquisadores/as com agendas políticas enunciadas; a irrelevância destinada ao trabalho intelectual de mulheres negras no país; o apagamento de narrativas dissidentes que tencionam paradigmas – ou seja, a tendência recorrente no Brasil do apagamento do pensamento de intelectuais negros/as que propõem leituras dissidentes a respeito da realidade social, que confrontam o mito da democracia racial.
É bastante significativo o fato de que o único livro autoral que reúne sua produção, intitulado Quilombola e intelectual: possibilidade nos dias da destruição, tenha sido feito de forma póstuma e independente – tal qual Primavera para rosas negras, livro de Lélia González publicado pela União dos Coletivos Panafricanistas (UCPA) em 2018. O material publicado no livro é do Fundo Maria Beatriz do Nascimento, depositado no Arquivo Nacional (Rio de Janeiro)pela família, ciente da relevância e importância intelectual da historiadora, que disponibiliza o material para consulta pública desde 1999.
“A NOITE NÃO ADORMECERÁ”
A passagem de Beatriz foi trágica e covarde, vítima de feminicídio [nota 26] – como descreveu o geógrafo Alex Ratts, seu biógrafo, foi a “interrupção de sua vida provocada por um homem branco desumano e desumanizador”. [nota 27] Sua vida, porém, foi mais do que sua morte: foi alegria. Escritos em memória de Beatriz, estes versos de Conceição Evaristo [nota 28] ecoam a força de sua trajetória:
A noite não adormecerá
jamais nos olhos das fêmeas
pois do nosso sangue-mulher
de nosso líquido lembradiço
em cada gota que jorra
um fio invisível e tônico
pacientemente cose a rede
de nossa milenar resistência.
NOTAS
1. Cf. Wagner Vinhas Batista, Palavras sobre uma historiadora transatlântica: estudo da trajetória intelectual de Maria Beatriz Nascimento. (tese de doutorado em Estudos Étnicos e Africanos, UFBA, Salvador, 2016, p. 41).
2. As reuniões que deram origem à formação das primeiras organizações no Rio de Janeiro do movimento negro brasileiro contemporâneo aconteciam no Centro de Estudos Afro-Asiáticos da Universidade Candido Mendes, criado em 1973 no bairro de Ipanema. A estrutura da Universidade concedia relativa segurança aos ativistas negros em um contexto repressivo.
3. Beatriz Nascimento, “Por uma história do homem negro”. Revista de Cultura Vozes, volume 68, número 1, p. 41-45, 1974.
4. “Por uma história do homem negro”, op. cit., p. 44.
5. “Por uma história do homem negro”, op. cit., p. 42-43.
6. Arquivo Nacional. Fundo Maria Beatriz Nascimento, Caixa 13, Pasta 2, documento 9, Código de Referência BR NA, RIO 2D.
7. Segundo o material da autora pesquisado no Arquivo Nacional, ela foi aprovada no mestrado em História na UFF em 1979, mas não concluiu o curso. Encontrei no arquivo documentos que mencionavam trancamentos de matrícula em 1983 e, depois, 1985. Cf. Arquivo Nacional. Fundo Maria Beatriz Nascimento, Caixa 21, Pasta 4, doc. 7, Código de Referência BR NA, RIO 2D.
8. Para conhecer melhor a trajetória da antropóloga, ver J. A. Cunha (2018), “Em busca de um espaço: a linguagem gestual no candomblé – À memória de Marlene de Oliveira Cunha”. Cadernos de Campo (São Paulo 1991), volume 26, número (1), 15-41. Disponível em www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/133686.
9. André Rebouças (1838-1898) foi o primeiro engenheiro negro a se formar na Escola Politécnica do Largo de São Francisco (SP). Criou a Confederação Abolicionista, junto com José do Patrocínio. É pouco citado seu protagonismo e de outros homens negros no movimento abolicionista. Na concepção de Rebouças, a Abolição deveria incluir uma reforma nacional que garantisse concessão de terras e educação para a população negra.
10. Arquivo Nacional. Fundo Maria Beatriz Nascimento, Caixas 16, Pasta 4, doc. 6, Código de Referência BR NA, RIO 2D.
11. Para conhecer melhor a trajetória do sociólogo, cf: Rafael Petry Trapp, O elefante negro: Eduardo de Oliveira e Oliveira, raça e pensamento social no Brasil (tese de doutorado em História Social, UFF, Niterói, 2018).
12. “Historiografia do Quilombo”. In Beatriz Nascimento, Quilombola e intelectual: possibilidade nos dias de destruição. Editora Filhos da África, 2018. (citação da p. 127).
13. Transcrição do documentário Ôrí (1989), publicado em Nascimento, op. cit., p. 333.
14. Por um território (novo) existencial e físico. Texto produzido para a disciplina Teoria da Comunicação, ministrada pela professora Janice Caiafe no programa de pós-graduação em Comunicação Social da UFRJ. 01/08/1992. Cf. Arquivo Nacional. Fundo Maria Beatriz Nascimento, Caixas 21, Pasta 3, dossiê 4, Código de Referência BR NA, RIO 2D.
15. Beatriz Nascimento, Quilombola e intelectual …, p. 128.
16. Nascimento, op. cit., p. 128.
17. Aspas transcritas do documentário Ôrí (1989), publicado em Nascimento, op. cit., p .327.
18. “Quilombo: Em Palmares, na Favela, no Carnaval”. In Nascimento, op. cit., p. 190.
19. “O negro visto por ele mesmo”. Manchete, Rio de Janeiro, edição 1270 (21 de agosto de 1976), p. 130.
20. Os lugares estudados foram Carmo da Mata, Alagoa e Comarca do Rio das Mortes, em Minas Gerais. A pesquisa foi financiada com o apoio da Fundação Ford, o que era comum no período. A antropóloga Marlene de Oliveira Cunha foi sua assistente. As hipóteses estão no artigo “Kilombo e memória comunitária: um estudo de caso” In Nascimento, Quilombola e intelectual …. pp. 253-263.
21. In “O negro visto por ele mesmo”, Manchete, p. 130.
22. In “Kilombo e memória comunitária…” In Nascimento, Quilombola e intelectual …, p. 261.
23. “Historiografia do Quilombo”, in Nascimento, op. cit., p. 126.
24. “O conceito de quilombo e a resistência cultural negra”, in Nascimento, op. cit., p. 291.
25. Nascimento, op. cit., p. 290.
26. No dia 28 de janeiro de 1995, Beatriz estava em uma lanchonete em Botafogo (zona sul do Rio), quando foi morta. O homicídio foi motivado pelo fato de Beatriz aconselhar a uma amiga, vítima de violência doméstica, a abandonar o agressor. No fatídico dia, ela discutiu com o agressor que se retirou do lugar e voltou com um arma e disparou. Beatriz foi socorrida pelos bombeiros, mas não chegou com vida ao hospital.
27. Alex Ratts, Eu sou Atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. p. 78.
28. Do poema A noite não adormece nos olhos das mulheres. Disponível em educacaopublica.rj.gov.br/cultura/prosaepoesia/0206.html.