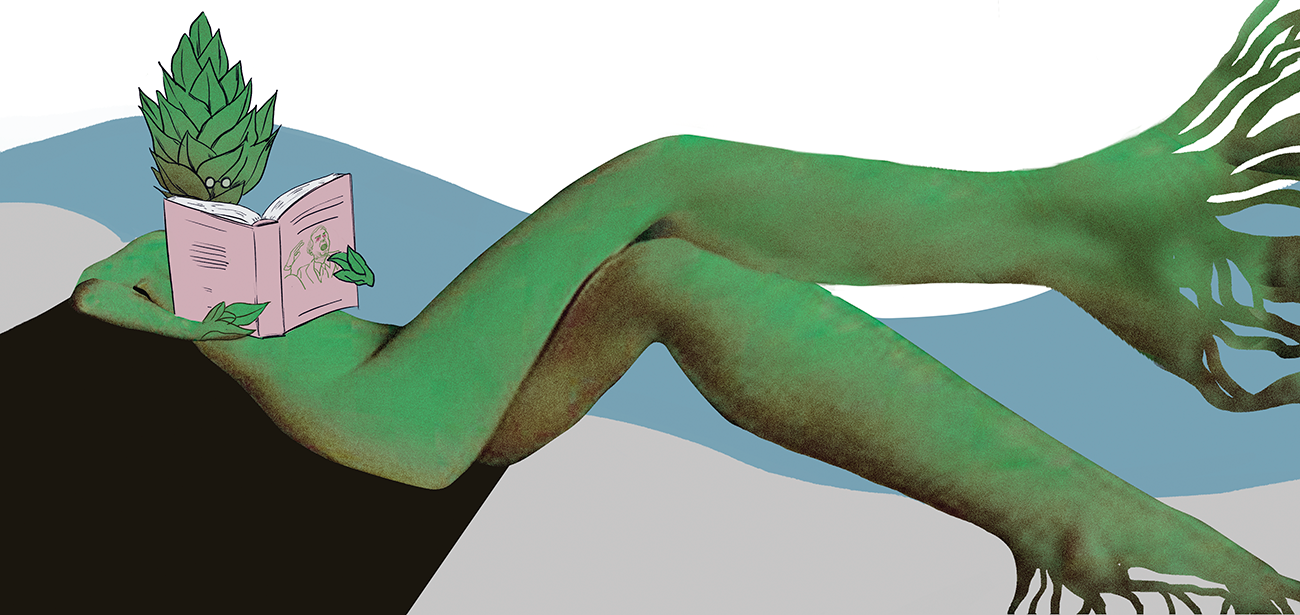
A EXISTÊNCIA VEGETAL
A belíssima novela O homem que plantava árvores, do francês Jean Giono (Editora 34), foi originalmente uma encomenda da revista norte-americana Reader’s Digest, nos anos 1950. Giono inventou a fábula de um homem que o narrador teria conhecido em 1913, numa região da Provença, sul da França, reduzida então a um deserto, por causa do desflorestamento compulsivo. Elzéard Bouffier, pastor de ovelhas, dedicava uma parte de seu tempo a plantar árvores, sobretudo carvalhos e faias. Ele atravessou as duas Grandes Guerras, dedicando-se à missão de reflorestar grande parte da região onde vivia, a despeito de todos os percalços.
Depois de algumas décadas, os lugarejos, antes abandonados, voltaram a florescer, como toda a natureza: “As antigas nascentes, alimentadas pelas chuvas e neves retidas, voltaram a correr. Os cursos d’água foram canalizados. Ao lado de cada propriedade, nos bosques de bordos, os tanques das fontes transbordam sobre tapetes de hortelã fresca”. A edição brasileira, com tradução de Cecília Ciscato e Samuel Titan Jr., vem acompanhada por belas ilustrações botânicas de Daniel Bueno.
O replantio empreendido por Elzéard Bouffier lembra a revitalização promovida pelo casal Lélia Deluiz Wanick Salgado e Sebastião Salgado, na região do Vale do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo. O Instituto Terra nasceu do trabalho de recuperação ambiental da fazenda que pertencia à família do fotógrafo, numa região que voltou a sofrer recentemente com a contaminação do Rio Doce. Esse é um dos temas do documentário dirigido por Christiane Torloni, Amazônia: O despertar da florestania (Globo Filmes), que faz um apanhado político da questão da floresta amazônica e da natureza no Brasil das últimas décadas. O neologismo florestania procura reunir os conceitos de cidadania e de direitos florestais.
Faz alguns anos que desenvolvo um projeto para interpretação de obras, sobretudo dos séculos XX e XXI, que abordam a temática das plantas. Tal como se observa na história de Giono, me interessa ver como as vozes narrativas e poéticas dão um tratamento praticamente autônomo aos vegetais, abordando situações em que eles são os protagonistas da história ou do poema e evitando assim o antropocentrismo tradicional. Trata-se de ficcionistas, poetas e ensaístas, como Clarice Lispector, Fernando Pessoa e Guimarães Rosa, os quais escrevem o que desde os anos 1990 chamo de literatura ou escrita pensante. Uma escrita pensante é aquela que ajuda a pensar o impensado na história da humanidade. [nota 1]
Nesse sentido, há uma plena convergência dessa proposta com o modo segundo o qual a vida das plantas tem sido abordada por filósofos e cientistas nas últimas décadas. Pensadores como Michael Marder, Fernando Coccia, Stefano Mancuso, Anthony Trewavas, Fleur Daugey, entre muitos outros e outras, têm procurado dar um estatuto particular a esses viventes especiais, tão ameaçados pela espécie que se arrogou a soberania absoluta no planeta: “nós”.
Já na Grécia antiga, havia toda uma discussão para saber se os vegetais eram dotados de psyché. O termo grego é geralmente traduzido por “alma”, mas isso acarreta um grande problema, já que essa palavra latina ganhou uma conotação fortemente cristã. A psyché grega seria mais um princípio vital, não tendo necessariamente uma conotação religiosa.
Em De anima (Peri psyché, Editora 34, tradução de Maria Cecília dos Reis), Aristóteles repassa todas as teorias precedentes da “alma”, desqualificando-as uma por uma. Ao contrário de diversos outros pensadores da tradição metafísica, como Empédocles ou Platão, ele não nega certa propriedade anímica às plantas, mas considera que elas têm uma “alma” (psyché) incompleta. Por esse motivo, a planta seria inferior aos animais e humanos. Esse preconceito metafísico foi repetido dos mais diversos modos pela tradição ocidental.
Até mesmo Heidegger, em sua Carta sobre o humanismo, promoveu a separação abissal do Dasein humano em relação aos viventes não humanos. À diferença de outras culturas, como algumas de origem africana e ameríndia, as plantas para os ocidentais não se vinculam diretamente aos humanos. Desse modo, ignora-se sua importância para toda a vida no planeta.
Exemplo disso está no fator alimentação. Os animais são classificados como heterótrofos (do grego héteros: outro, diferente, e trophé: alimento) por não conseguirem produzir seu próprio alimento. Já as plantas são autótrofas, pelo fato de obterem nutrição por meio da fotossíntese, das substâncias do solo e da água: produzem, desse modo, o orgânico a partir do inorgânico. Sem os vegetais, toda a fauna desapareceria em pouco tempo, por falta de alimento e de oxigênio.
O EXEMPLO DE ALBERTO CAEIRO
Alberto Caeiro, um dos mais famosos heterônimos de Fernando Pessoa, propõe em seu longo poema O guardador de rebanhos (da Obra poética, editora Nova Fronteira), uma visão radicalmente distinta da relação entre humanos e vegetais:
Ah, como os mais simples dos homens
São doentes e confusos e estúpidos
Ao pé da clara simplicidade
E saúde em existir
Das árvores e das plantas!
A crítica de Caeiro incide sobre as palavras como incapazes de dar conta da realidade natural. Desenvolvendo uma estética das sensações, o poeta expõe uma concepção paradoxal, que visa a desqualificar seu próprio instrumento de trabalho: a linguagem verbal.
A concepção sem pensamento abstrato de Pessoa/Caeiro é puramente tautológica: as coisas são o que são e nenhum discurso reflexivo consegue dar a dimensão do que é ou existe. Não se trata de um pensamento irracionalista, mas sim de um pensamento radical, enraizado nas sensações e sua lógica própria. Como no célebre exemplo da rosa de Gertrude Stein, para Caeiro, uma árvore é uma árvore é uma árvore é uma árvore, nada mais. E num dos lances mais audaciosos de sua poética sensorial, ele resolve dois milênios de tradição metafísica, irmanando-se às plantas:
No meu prato que mistura de Natureza!
As minhas irmãs as plantas,
As companheiras das fontes, as santas
A quem ninguém reza...
Ou seja, negando a reflexão de Heidegger de que haveria um abismo entre nós e as plantas, o eu poético de Caeiro as trata como irmãs, que de fato são. Essa é uma política pessoana da existência, que se oferece como instrumento de contraponto às biopolíticas empresariais. Em vez da vida das plantas empacotadas, com finalidade comestível e/ou medicinal, flores e folhas para serem saboreadas pelas sensações como forma radical de pensamento.
Dentro da perspectiva tradicional, faltaria também às plantas esse senso de mobilidade próprio aos animais, e que já está na etimologia da palavra: o ânimo ou a anima que nos move. Como somente depois do surgimento das câmeras de aceleração de imagens pôde-se perceber que as plantas se mexem bastante, o preconceito metafísico se perpetuou. O viver delas seria mecânico, “vegetativo”, e por isso carente da dignidade própria aos demais viventes. Não por acaso, o verbo “vegetar”, e seu equivalente em outras línguas modernas, se destaca pelo sentido negativo predominante, enquanto a forma etimológica no latim vegetare significava o oposto: animar, vivificar; dar movimento a.
Em 2008, o Comitê Ético Federal Suíço, pela primeira vez na história da humanidade, elaborou um relatório cujo título era A dignidade dos seres vivos no que diz respeito às plantas. Reafirmava-se desse modo o valor de qualquer vida humana, vegetal ou animal, independentemente da espécie ou gênero a que pertença. Segundo as estatísticas, as plantas correspondem a mais de 95% da biomassa (o total da matéria viva) existente no planeta. O percentual restante diz respeito aos animais – destes, menos de 1% corresponde aos humanos, ou seja, uma minoria.
Hoje o que importa é a defesa ampla e irrestrita do direito à vida, e não apenas dos direitos humanos, os quais devem igualmente continuar como prioritários. Não existe verdadeira democracia sem direitos humanos e sem o amplo respeito à vida em geral.
CLARICE E AS PLANTAS
Em diversos textos, as plantas ganham papel de destaque na ficção de Clarice Lispector. Citarei sucintamente apenas dois exemplos. Em Amor, conto de Laços de família (Rocco), a personagem Ana é uma dona de casa típica dos anos 1950, dedicando-se exclusivamente a cuidar dos filhos e do marido. Muito resumidamente, um dia em que retornava para casa, ela vê no ponto do bonde um cego mascando chicles. Em seguida, a arrancada súbita do veículo faz com que suas compras caiam. O duplo acontecimento do cego abrindo e fechando a boca mecanicamente e do abalo físico gera uma perturbação tal que a leva a passar do ponto onde ficaria, acabando por descer perto do Jardim Botânico. Antes disso, algumas metáforas vegetais já tinham preparado a experiência inquietante que ocorrerá no Jardim: sua faina diária é comparada à de um lavrador que lança sementes. Tudo o que diz respeito ao lar é referido ao crescimento das “árvores”.

Todavia, o Jardim Botânico proporcionará a Ana uma experiência inversa à familiaridade do cultivo no lar. Lá dentro, ela mergulha num mundo ao mesmo tempo real e muito onírico, que vai se confundir com um pesadelo. Chamaria isso de experiência do emaranhamento, o qual a lança para o Outro, desconhecido. A vivência no Jardim é multissensorial: uma combinação de plantas selvagens e de feras, reino vegetal e animal, como também reino mineral, inelutavelmente entrelaçados e surpreendentes. Cito um trecho para mostrar a descrição vívida do que acontece à personagem:
Nas árvores as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos.
A lembrança dos filhos a traz de volta à sua realidade cotidiana e ela acaba retornando para casa, a fim de cuidar do jantar. Ao final, parece predominar a moral do patriarcado, mas a travessia no Jardim deixou suas marcas no corpo dessa mulher, lançando novas sementes em solo antes estéril. Na década seguinte, os anos 1960, será iniciada a revolução sexual, que abalará mais fortemente essa lavoura arcaica.
Água viva, publicado em 1973, assemelha-se mais a plantas, bichos e coisas sensitivas do que ao objeto-livro tradicional: suas frases são águas-vivas, como já indica o título. É no contexto deste volume, atravessado por metamorfoses, que brotam flores e animais de papel.
O leitor ou a leitora de Água viva é convidado/a explicitamente a “mudar-se para reino novo”, onde tudo vem ao modo de pintura, de acordo com o ofício da Voz enunciativa: “Quero pintar uma rosa”. Tal como a própria Clarice em seus momentos de folga, a Voz feminina que fala e escreve em Água viva pinta com palavras e com tintas. A rosa e o cravo, as primeiras a serem nomeadas e pintadas, configuram as marcas do feminino e do masculino: “Rosa é a flor feminina que se dá toda e tanto que para ela só resta a alegria de se ter dado”; “Já o cravo tem uma agressividade que vem de certa irritação”. A diferença floral é, desse modo, expressa como diferença sexual, mas sem oposição simples: “Será o girassol flor feminina ou masculina? Acho que masculina”. Pintam-se ainda, violetas, sempre-vivas, margaridas, orquídeas, tulipas, flores do trigal, angélicas, jasmins, estrelícias, damas-da-noite, edelvais, gerânios, vitórias-régias, crisântemos, e por fim tajá, da Amazônia, “uma planta que fala”. A escrita a um só tempo delirante e lúcida do pequeno livro, bem próxima do selvagem coração da vida, se transforma num cipoal de signos, fazendo convergir num mesmo espaço letra e seiva vegetal.
COM A PALAVRA, OS CIENTISTAS E OS ARTISTAS
O chamado Antropoceno, momento em que a Terra teria sofrido transformações irreversíveis devido à ação humana, para muitos cientistas já é um fato. O que se espera da racionalidade humana é que, minimamente, reduza o impacto de suas intervenções exploratórias sobre as demais espécies, levando em conta o chamado ecossistema em que vive cada uma delas.
Esquecemos que a saga de nossa espécie é muito recente, nada tendo de atemporal: o homo sapiens data “apenas” de 250.000 anos, enquanto o chamado “homem moderno”, “nós”, o homo sapiens sapiens, com uma capacidade cognitiva semelhante à nossa atual, data tão-somente de 40.000 anos. Isso representa alguns minutos em termos de história da vida no planeta e de história da própria Terra; ou de nanossegundos, se se levar em conta a história do próprio universo.
Não se trata, em hipótese alguma, de rebaixar o humano, mas sim de redimensionar o conceito tradicional de Homem, em sua vertente humanista, herdeira do positivismo clássico. Para ser efetivamente universal, o valor humano deve ser inclusivo e respeitar as modalidades de vida não humanas, tal é a questão. Sem o respeito a essas formas da alteridade, é o próprio destino da espécie humana que se vê drasticamente ameaçado.
Como sintetiza o cientista italiano Stefano Mancuso, em L’intelligence des plantes (escrito com a jornalista Alessandra Viola, editora Albin Michel) a respeito da inteligência e da sensibilidade dos vegetais:
Os estudos mais recentes mostraram que [as plantas] são dotadas de sensibilidade, que se comunicam entre si e com os animais, que dormem, memorizam dados e são até capazes de dominar outras espécies. Além disso, merecem de pleno direito o qualificativo de inteligentes. O aparato de suas raízes se desenvolve ininterruptamente, com a ajuda de inúmeros centros de comando, cujo conjunto as guia à maneira de uma espécie de cérebro coletivo, ou antes, de inteligência distribuída, que, ao aumentar e se desenvolver, assimila informações capitais para sua nutrição e sobrevivência.
Frans Krajcberg foi um artista polonês radicado no Brasil nos anos 1950 que faleceu em 2017. Sua produção artística internacionalmente mais relevante foi realizada em grande parte no sítio Natura, em Nova Viçosa, extremo sul da Bahia. O ponto de mutação de sua pesquisa estética ocorreu em 1975, após uma exposição realizada no Centro Georges Pompidou, o Beaubourg, em Paris. Krajcberg levou para lá seus trabalhos com árvores calcinadas e outros resíduos naturais e obteve ótima repercussão crítica. Porém, como ele mesmo contou, nos debates que ocorreram houve grande conflito com o público, que de algum modo condenava aquela estetização do que chamo de “holocausto vegetal”.
Isso gerou nele a necessidade de infletir sua prática a partir de uma reflexão ética e política, que se tornaria a marca nacional e internacional de suas intervenções. Não somente intensificou sua pesquisa de campo nos mangues de Nova Viçosa, recolhendo troncos carcomidos pelos gusanos, árvores apodrecidas, raízes e todo tipo de detrito vegetal, mas também fez incursões pela floresta amazônica e pelo Mato Grosso, onde registrou a destruição programada de nossas florestas tropicais.
E a estetização que propôs dos resíduos vegetais fascina pela exuberância dos materiais recolhidos, alguns difíceis de se submeterem às técnicas artísticas tradicionais: gravetos, raízes, troncos gigantescos, cipós, folhas de toda natureza, rigorosamente qualquer coisa que captasse a curiosidade do coletor foi levada para seu ateliê e trabalhada arduamente.
Apesar do ativismo de uma existência dedicada à natureza e à arte, contra toda forma de destruição, o holocausto vegetal segue a todo vapor, com o anúncio explícito do velho-novo presidente do Brasil no sentido de retirar os indígenas dos territórios que ainda ocupam na floresta amazônica e noutras regiões. Cada vez que um holocausto como esse é anunciado e praticado, é toda a humanidade que se precariza, como se os governantes planetários desejassem programar nosso próprio fim.
Na primavera de 2017, o Grand Palais de Paris realizou uma inédita exposição com o título de Jardins. Obras de diversas épocas se sucediam para dar uma visão múltipla das possibilidades de abordar artisticamente a vida vegetal: instalações, pinturas em técnicas variadas, livros ilustrados, vídeos, jardinagem, gabinetes de curiosidade, esculturas etc.
Simultaneamente, as livrarias parisienses disponibilizaram inúmeras obras literárias, livros de botânica e de paisagismo, incluindo-se aí uma publicação sobre o grande Burle Marx, o qual tem neste momento em cartaz no Jardim Botânico de Nova York uma retrospectiva sobre seu trabalho. No Filme paisagem: um olhar sobre Roberto Burle Marx, que lhe foi dedicado postumamente (direção de João Vargas Penna, produtora Camisa Listrada), ele conta que descobriu a flora brasileira numa estufa, quando estudava em Berlim. Até então, nosso paisagismo ignorava as espécies nativas, em favor das de origem europeia. Com ele, tudo mudou, tal como se pode testemunhar em seu sítio-museu em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, e noutros lugares onde realizou projetos.
SEMEAR É PRECISO
Alguns escritores contemporâneos também têm se dedicado ao universo exuberante das plantas. Ana Martins Marques acaba de lançar um delicado Livro dos jardins (Quelônio), dividido em duas partes. Na primeira, poemas avulsos celebram a existência desses viventes que fazemos tudo por ignorar: as flores e plantas em geral. Na segunda, “poemas-jardins” são dedicados a mulheres poetas, tais como a brasileira Orides Fontela, a norte-americana Sylvia Plath e a polonesa Wislawa Szymborska.
Noutra vertente, Sérgio Medeiros tem desenvolvido uma poética nonsense, em livros publicados pela Iluminuras, nos quais as plantas se entrelaçam aos comportamentos humanos, engendrando uma floresta de signos, inclusive visuais. Igualmente, sob a égide das plantas, o chileno Alejandro Zambra compôs densas metáforas afetivas e políticas em seus dois livros iniciais: Bonsai e A vida privada das árvores (ambos publicados pela Tusquets). Do mesmo modo, em meu próximo livro de ficção, A desordem das inscrições: contracantos (a sair em breve pela 7 Letras), há uma história com uma “figueira estranguladora” (Ficus macrophylla), acompanhada de desenho.
Existem ainda muitas escritas pensantes a desbravar na “selva selvagem” da modernidade novecentista e na contemporaneidade: Francis Ponge, Carlos Drummond, Jean Genet, Guimarães Rosa, Cecília Meireles, João Cabral, Manuel Bandeira, Adélia Prado, Herberto Helder...
O pensador franco-argelino Jacques Derrida (1930-2004) realizou dois anos do seminário intitulado A besta e o soberano, em Paris, tendo como tema os animais. Em mais de um momento nessas apresentações, ele se referiu à questão das plantas, sem chegar a desenvolvê-la. Ao longo de sua vasta obra há diversas referências ao mundo vegetal, com palavras tais como enxerto, semente e deiscência.
O trabalho de Derrida ficou conhecido sobretudo pela palavra “desconstrução”, que entrou para o vocabulário midiático e até cotidiano. Por diversas razões que não daria para resumir aqui, hoje prefiro utilizar o termo disseminação, o qual deu o título a um de seus mais belos livros. [nota 2] Se tivesse vivido um pouco mais, provavelmente chegaria às plantas, ajudando a disseminar suas sementes numa Terra hoje bem próxima da devastação.
Fica claro por todos esses exemplos literários, artísticos, filosóficos e científicos que a fitocultura, o cultivo e o amor às plantas, é uma questão ética e política de primeira ordem. As boas ou más decisões dos governantes, bem como nosso próprio comportamento individual e coletivo, determinarão o porvir de todas as vidas no planeta.
NOTAS
[nota 1]. Ver especialmente NASCIMENTO, Evando. Derrida e a literatura (3ª. ed. pela É realizações) e Clarice Lispector: uma literatura pensante (Civilização Brasileira).
[nota 2]. Desenvolvi esse tema no ensaio inédito Derrida e as plantas: disseminações, a sair este ano na publicação do colóquio internacional A solidariedade dos viventes e o Perdão: Jacques Derrida/ Evando Nascimento, realizado em 2017, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).